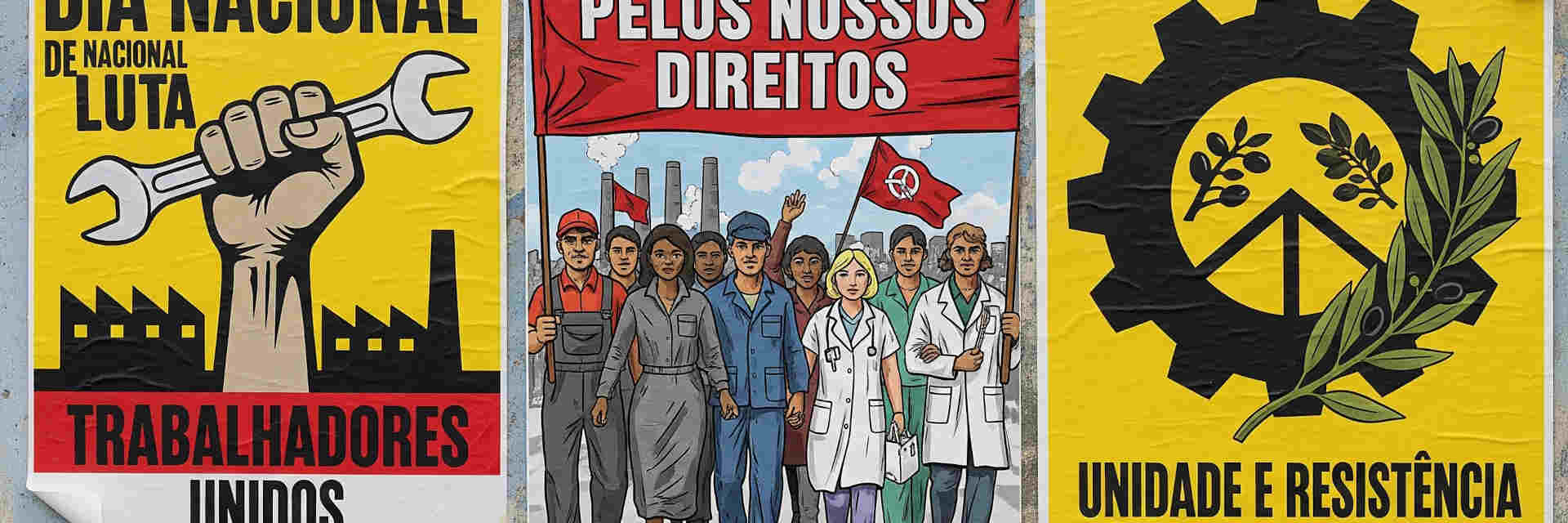Declara a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, da norma constante do artigo 356.º, n.º 1, do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro; não declara a inconstitucionalidade das seguintes normas do Código do Trabalho: n.os 1 e, em consequência, 2 a 5 do artigo 3.º; alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 140.º; n.º 1 do artigo 163.º, e artigos 205.º, 206.º, 208.º, 209.º, 392.º, 497.º, 501.º e 10.º da Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro
Processo n.º 175/09
Acordam, em Plenário, no Tribunal Constitucional:
I - Relatório. - 1 - Um grupo de deputados à Assembleia da República pediu a apreciação e declaração, com força obrigatória geral, da inconstitucionalidade das normas constantes dos artigos 3.º, 140.º, n.º 4, 163.º, n.º 1, 205.º, n.º 4, 206.º, 208.º, 209.º, 356.º, n.º 1, 392.º, 497.º e 501.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, e, ainda, da norma constante do artigo 10.º desta mesma lei.
2 - O teor das normas questionadas é o seguinte:
Código do Trabalho
(aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro)
«Artigo 3.º
Relações entre fontes de regulação
1 - As normas legais reguladoras de contrato de trabalho podem ser afastadas por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho, salvo quando delas resultar o contrário.
2 - As normas legais reguladoras de contrato de trabalho não podem ser afastadas por portaria de condições de trabalho.
3 - As normas legais reguladoras de contrato de trabalho só podem ser afastadas por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho que, sem oposição daquelas normas, disponha em sentido mais favorável aos trabalhadores quando respeitem às seguintes matérias:
a) Direitos de personalidade, igualdade e não discriminação;
b) Protecção na parentalidade;
c) Trabalho de menores;
d) Trabalhador com capacidade de trabalho reduzida, com deficiência ou doença crónica;
e) Trabalhador-estudante;
f) Dever de informação do empregador;
g) Limites à duração dos períodos normais de trabalho diário e semanal;
h) Duração mínima dos períodos de repouso, incluindo a duração mínima do período anual de férias;
i) Duração máxima do trabalho dos trabalhadores nocturnos;
j) Forma de cumprimento e garantias da retribuição;
l) Capítulo sobre prevenção e reparação de acidentes de trabalho e doenças profissionais e legislação que o regulamenta;
m) Transmissão de empresa ou estabelecimento;
n) Direitos dos representantes eleitos dos trabalhadores.
4 - As normas legais reguladoras de contrato de trabalho só podem ser afastadas por contrato individual que estabeleça condições mais favoráveis para o trabalhador, se delas não resultar o contrário.
5 - Sempre que uma norma legal reguladora de contrato de trabalho determine que a mesma pode ser afastada por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho entende-se que o não pode ser por contrato de trabalho.
Artigo 140.º
Admissibilidade de contrato de trabalho a termo resolutivo
4 - Além das situações previstas no n.º 1, pode ser celebrado contrato de trabalho a termo certo para:
a) Lançamento de nova actividade de duração incerta, bem como início de laboração de empresa ou de estabelecimento pertencente a empresa com menos de 750 trabalhadores;
b) Contratação de trabalhador à procura de primeiro emprego, em situação de desemprego de longa duração ou noutra prevista em legislação especial de política de emprego.
Artigo 163.º
Cessação de comissão de serviço
1 - Qualquer das partes pode pôr termo à comissão de serviço, mediante aviso prévio por escrito, com a antecedência mínima de 30 ou 60 dias, consoante aquela tenha durado, respectivamente, até dois anos ou período superior.
Artigo 205.º
Adaptabilidade individual
4 - O acordo pode ser celebrado mediante proposta, por escrito, do empregador, presumindo-se a aceitação por parte de trabalhador que a ela não se oponha, por escrito, nos 14 dias seguintes ao conhecimento da mesma, aí incluídos os períodos a que se refere o n.º 2 do artigo 217.º
Artigo 206.º
Adaptabilidade grupal
1 - O instrumento de regulamentação colectiva de trabalho que institua o regime de adaptabilidade previsto no artigo 204.º pode prever que:
a) O empregador possa aplicar o regime ao conjunto dos trabalhadores de uma equipa, secção ou unidade económica caso, pelo menos, 60 % dos trabalhadores dessa estrutura sejam por ele abrangidos, mediante filiação em associação sindical celebrante da convenção e por escolha dessa convenção como aplicável;
b) O disposto na alínea anterior se aplique enquanto os trabalhadores da equipa, secção ou unidade económica em causa abrangidos pelo regime de acordo com a parte final da alínea anterior forem em número igual ou superior ao correspondente à percentagem nele indicada.
2 - Caso a proposta a que se refere o n.º 4 do artigo anterior seja aceite por, pelo menos, 75 % dos trabalhadores da equipa, secção ou unidade económica a quem for dirigida, o empregador pode aplicar o mesmo regime ao conjunto dos trabalhadores dessa estrutura.
3 - Ocorrendo alteração por entrada ou saída de trabalhadores na composição da equipa, secção ou unidade económica, o disposto no número anterior aplica-se enquanto dessa alteração não resultar percentagem inferior à nele indicada.
4 - O regime de adaptabilidade instituído nos termos dos n.os 1 ou 2 não se aplica a trabalhador abrangido por convenção colectiva que disponha de modo contrário a esse regime ou, relativamente a regime referido no n.º 1, a trabalhador representado por associação sindical que tenha deduzido oposição a portaria de extensão da convenção colectiva em causa.
5 - Constitui contra-ordenação grave a prática de horário de trabalho em violação do disposto neste artigo.
Artigo 208.º
Banco de horas
1 - Por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho, pode ser instituído um regime de banco de horas, em que a organização do tempo de trabalho obedeça ao disposto nos números seguintes.
2 - O período normal de trabalho pode ser aumentado até quatro horas diárias e pode atingir sessenta horas semanais, tendo o acréscimo por limite duzentas horas por ano.
3 - O limite anual referido no número anterior pode ser afastado por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho caso a utilização do regime tenha por objectivo evitar a redução do número de trabalhadores, só podendo esse limite ser aplicado durante um período até 12 meses.
4 - O instrumento de regulamentação colectiva de trabalho deve regular:
a) A compensação do trabalho prestado em acréscimo, que pode ser feita mediante redução equivalente do tempo de trabalho, pagamento em dinheiro ou ambas as modalidades;
b) A antecedência com que o empregador deve comunicar ao trabalhador a necessidade de prestação de trabalho;
c) O período em que a redução do tempo de trabalho para compensar trabalho prestado em acréscimo deve ter lugar, por iniciativa do trabalhador ou, na sua falta, do empregador, bem como a antecedência com que qualquer deles deve informar o outro da utilização dessa redução.
5 - Constitui contra-ordenação grave a prática de horário de trabalho em violação do disposto neste artigo.
Artigo 209.º
Horário concentrado
1 - O período normal de trabalho diário pode ter aumento até quatro horas diárias:
a) Por acordo entre empregador e trabalhador ou por instrumento de regulamentação colectiva, para concentrar o período normal de trabalho semanal no máximo de quatro dias de trabalho;
b) Por instrumento de regulamentação colectiva para estabelecer um horário de trabalho que contenha, no máximo, 3 dias de trabalho consecutivos, seguidos no mínimo de 2 dias de descanso, devendo a duração do período normal de trabalho semanal ser respeitado, em média, num período de referência de 45 dias.
2 - Aos trabalhadores abrangidos por regime de horário de trabalho concentrado não pode ser simultaneamente aplicável o regime de adaptabilidade.
3 - O instrumento de regulamentação colectiva de trabalho que institua o horário concentrado regula a retribuição e outras condições da sua aplicação.
Artigo 356.º
Instrução
1 - Cabe ao empregador decidir a realização das diligências probatórias requeridas na resposta à nota de culpa.
Artigo 392.º
Indemnização em substituição de reintegração a pedido do empregador
1 - Em caso de microempresa ou de trabalhador que ocupe cargo de administração ou de direcção, o empregador pode requerer ao tribunal que exclua a reintegração, com fundamento em factos e circunstâncias que tornem o regresso do trabalhador gravemente prejudicial e perturbador do funcionamento da empresa.
2 - O disposto no número anterior não se aplica sempre que a ilicitude do despedimento se fundar em motivo político, ideológico, étnico ou religioso, ainda que com invocação de motivo diverso, ou quando o fundamento da oposição à reintegração for culposamente criado pelo empregador.
3 - Caso o tribunal exclua a reintegração, o trabalhador tem direito a indemnização, determinada pelo tribunal entre 30 e 60 dias de retribuição base e diuturnidades por cada ano completo ou fracção de antiguidade, nos termos estabelecidos nos n.os 1 e 2 do artigo anterior, não podendo ser inferior ao valor correspondente a seis meses de retribuição base e diuturnidades.
Artigo 497.º
Escolha de convenção aplicável
1 - Caso sejam aplicáveis, no âmbito de uma empresa, uma ou mais convenções colectivas ou decisões arbitrais, o trabalhador que não seja filiado em qualquer associação sindical pode escolher qual daqueles instrumentos lhe passa a ser aplicável.
2 - A aplicação da convenção nos termos do n.º 1 mantém-se até ao final da sua vigência, sem prejuízo do disposto no número seguinte.
3 - No caso de a convenção colectiva não ter prazo de vigência, os trabalhadores são abrangidos durante o prazo mínimo de um ano.
4 - O trabalhador pode revogar a escolha, sendo neste caso aplicável o disposto no n.º 4 do artigo anterior.
Artigo 501.º
Sobrevigência e caducidade de convenção colectiva
1 - A cláusula de convenção que faça depender a cessação da vigência desta da substituição por outro instrumento de regulamentação colectiva de trabalho caduca decorridos cinco anos sobre a verificação de um dos seguintes factos:
a) Última publicação integral da convenção;
b) Denúncia da convenção;
c) Apresentação de proposta de revisão da convenção que inclua a revisão da referida cláusula.
2 - Após a caducidade da cláusula referida no número anterior, ou em caso de convenção que não regule a sua renovação, aplica-se o disposto nos números seguintes.
3 - Havendo denúncia, a convenção mantém-se em regime de sobrevigência durante o período em que decorra a negociação, incluindo conciliação, mediação ou arbitragem voluntária, ou no mínimo durante 18 meses.
4 - Decorrido o período referido no número anterior, a convenção mantém-se em vigor durante 60 dias após qualquer das partes comunicar ao ministério responsável pela área laboral e à outra parte que o processo de negociação terminou sem acordo, após o que caduca.
5 - Na ausência de acordo anterior sobre os efeitos decorrentes da convenção em caso de caducidade, o ministro responsável pela área laboral notifica as partes, dentro do prazo referido no número anterior, para que, querendo, acordem esses efeitos, no prazo de 15 dias.
6 - Após a caducidade e até à entrada em vigor de outra convenção ou decisão arbitral, mantêm-se os efeitos acordados pelas partes ou, na sua falta, os já produzidos pela convenção nos contratos de trabalho no que respeita a retribuição do trabalhador, categoria e respectiva definição, duração do tempo de trabalho e regimes de protecção social cujos benefícios sejam substitutivos dos assegurados pelo regime geral de segurança social ou com protocolo de substituição do Serviço Nacional de Saúde.
7 - Além dos efeitos referidos no número anterior, o trabalhador beneficia dos demais direitos e garantias decorrentes da legislação do trabalho.
8 - As partes podem acordar, durante o período de sobrevigência, a prorrogação da vigência da convenção por um período determinado, ficando o acordo sujeito a depósito e publicação.
9 - O acordo sobre os efeitos decorrentes da convenção em caso de caducidade está sujeito a depósito e publicação.»
Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro
«Artigo 10.º
Regime transitório de sobrevigência e caducidade de convenção colectiva
1 - É instituído um regime específico de caducidade de convenção colectiva da qual conste cláusula que faça depender a cessação da sua vigência de substituição por outro instrumento de regulamentação colectiva de trabalho, de acordo com os números seguintes.
2 - A convenção colectiva caduca na data da entrada em vigor da presente lei, verificados os seguintes factos:
a) A última publicação integral da convenção que contenha a cláusula referida no n.º 1 tenha entrado em vigor há, pelo menos, seis anos e meio, aí já compreendido o período decorrido após a denúncia;
b) A convenção tenha sido denunciada validamente na vigência do Código do Trabalho;
c) Tenham decorrido pelo menos 18 meses a contar da denúncia;
d) Não tenha havido revisão da convenção após a denúncia.
3 - A convenção referida no n.º 1 também caduca, verificando-se todos os outros factos, logo que decorram 18 meses a contar da denúncia.
4 - O disposto nos n.os 2 e 3 não prejudica as situações de reconhecimento da caducidade dessa convenção reportada a momento anterior.
5 - O aviso sobre a data da cessação da vigência da convenção é publicado:
a) Oficiosamente, caso tenha havido requerimento anterior cujo indeferimento tenha sido fundamentado apenas na existência da cláusula referida no n.º 1;
b) Dependente de requerimento, nos restantes casos.»
3 - O requerente apresentou os fundamentos do seu pedido dizendo, no essencial, o que se segue:
Cinco anos volvidos sobre a publicação da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, o Governo apresentou uma nova versão do Código do Trabalho, que, aprovada pela Assembleia da República, viria a constar da Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, e que mantém no essencial a lei anterior, alterando, para pior, em matérias fundamentais, a condição dos trabalhadores portugueses.
As alterações produzidas traduziram-se num agravamento legislativo das condições impostas aos trabalhadores que, postas em prática, implicarão um sério retrocesso social em matéria de direito do trabalho, e isto num contexto em que a agudização geral das dificuldades económico-sociais deveria levar, segundo os princípios constitucionais, a uma maior protecção dos direitos e garantias dos trabalhadores.
São diversas, como de seguida se verá, as normas do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, que violam os direitos e garantias dos trabalhadores constitucionalmente consagrados.
O artigo 3.º do Código do Trabalho permite que as normas legais possam, por regra, ser afastadas por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho, sem distinguir se esses instrumentos são mais ou menos favoráveis ao trabalhador, pondo assim em causa o princípio constitucional do tratamento mais favorável do trabalhador.
Esta norma, ao permitir, como regra, a aprovação de instrumentos de regulamentação colectiva menos favoráveis ao trabalhador do que a lei, consubstancia uma descaracterização da natureza de limite mínimo das normas laborais, que radica na ideia da função protectiva da lei como meio de defesa do contraente mais débil, e constitui um desvirtuamento da função da contratação colectiva como instrumento de progresso social, mostrando-se manifestamente inconciliável com os princípios fundamentais do direito do trabalho perfilhados na nossa Constituição, nomeadamente o princípio do tratamento mais favorável do trabalhador como elemento estruturante da constituição laboral.
Efectivamente, vários comandos constitucionais devem ser interpretados no sentido de estabelecerem uma tutela mínima do trabalhador, designadamente os artigos 2.º, 9.º, alíneas b) e d), 58.º, 59.º e 81.º, alíneas a) e b), cabendo ao Estado, enquanto Estado social, prever e garantir um estatuto laboral mínimo de protecção, a partir do qual as partes, no exercício da sua autonomia colectiva, poderão concretizar os seus equilíbrios, mas sempre sem reduzir o nível de protecção mínima atribuído pela lei.
São elucidativas, nesta matéria, as afirmações da conselheira Helena Brito, em declaração de voto, no Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 306/2003, onde conclui pela existência de um princípio constitucional do tratamento mais favorável do trabalhador e pela impossibilidade geral de afastar a lei laboral por instrumento de regulamentação colectiva menos favorável.
Deve ter-se em atenção também o recente Acórdão n.º 632/2008, onde se declarou inconstitucional a norma que previa um período experimental de 180 dias para a generalidade dos trabalhadores contratados. Nesse aresto, o Tribunal salienta que o Estado tem deveres de protecção dos direitos dos trabalhadores que vinculam também as entidades privadas (artigo 18.º, n.º 2, parte final), que radicam, em última análise, na ideia de democracia económica, social e cultural [artigos 2.º e 9.º, alínea d), da Constituição], sendo clara «a intenção constitucional de proteger especialmente a condição existencial do trabalhador enquanto titular de direitos, liberdades e garantias», de modo a compensar o facto de que «as relações de trabalho subordinado se não configuram como verdadeiras relações entre iguais».
O artigo 3.º da lei sub judice abre a possibilidade evidente para que, num vasto conjunto de matérias, com excepção das ali enunciadas, no n.º 3, possam ser estabelecidas condições menos favoráveis quer através da contratação colectiva quer por força da conjugação do n.º 1 com o n.º 3 deste artigo 3.º, através de contrato individual de trabalho, abandonando assim de vez o princípio constitucional do favor laboratoris, permitindo-se o não cumprimento de uma tarefa fundamental do Estado em matéria de direitos dos trabalhadores.
O Código admite, no n.º 4 do artigo 140.º, duas situações de contratação «a termo» de gritante inconstitucionalidade. Diz, na verdade, a lei que pode ser celebrado contrato a termo para: a) «[l]ançamento de nova actividade de duração incerta, bem como início de laboração de empresa ou de estabelecimento pertencente a empresa com menos de 750 trabalhadores»; e b) «[c]ontratação de trabalhador à procura de primeiro emprego, em situação de desemprego de longa duração ou noutra prevista em legislação especial de política de emprego».
Estes preceitos estão em contradição clara com o direito à segurança no emprego constitucionalmente consagrado no artigo 53.º da Constituição. É objectivo deste preceito garantir os trabalhadores contra a precarização no emprego, nomeadamente no que respeita à própria subsistência dos vínculos laborais.
É por isso que a própria possibilidade de aposição de um termo ao contrato individual de trabalho despoletou, desde a sua génese, sérias dúvidas quanto à sua constitucionalidade. Contudo, sucessivas opções legislativas vêm atacando o referido direito à segurança no emprego, facilitando o contrato a termo e possibilitando assim a chamada flexibilidade dos vínculos laborais.
São os próprios dados do Livro Branco para as Relações Laborais que evidenciam os resultados das sucessivas opções políticas: «A composição do emprego por tipo de contrato tem sofrido alterações significativas nos últimos anos, que se caracterizaram pelo aumento da incidência de emprego com contrato a termo [...] ao mesmo tempo que se vem registando já desde 2002 uma redução do número de trabalhadores por conta própria.» (Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, Livro Branco das Relações Laborais, Lisboa, 2007, p. 21).
Assim se evidencia que as sucessivas alterações legislativas têm vindo a fazer perigar o princípio da segurança no emprego, como fica claro pelas estatísticas citadas.
Teve já o Tribunal Constitucional a possibilidade de se pronunciar sobre a contratação a termo, nomeadamente no Acórdão n.º 581/95, onde se reconheceu que o «método de enumeração de casos», que a lei utiliza no domínio dos contratos a termo, se liga «à ideia de excepcionalidade da contratação a termo, ideia que, em boa verdade, constitui um desiderato da garantia constitucional da segurança no emprego».
O Acórdão continua ainda: «Se o contrato a termo fosse admitido como regra, então a entidade empregadora optaria sistematicamente por essa forma, contornando a estabilidade programada no artigo 53.º da Constituição. Como afirmam Gomes Canotilho e Vital Moreira, a garantia da segurança no emprego 'perderia qualquer significado prático se, por exemplo, a relação de trabalho estivesse sujeita a prazos mais ou menos curtos, pois nesta situação o empregador não precisaria de despedir, bastando-lhe não renovar a relação jurídica no termo do prazo. O trabalho a prazo é por natureza precário, o que é contrário à segurança.' (Constituição da República Portuguesa Anotada, 3.ª ed., p. 289). A garantia constitucional da segurança no emprego significa, pois, que a relação de trabalho temporalmente indeterminada é a regra e o contrato a termo a excepção. Esta forma contratual há-de ter uma razão de ser objectiva. Também aqui a Constituição nos afasta dos paradigmas da liberdade contratual clássica.»
A realidade tem vindo, no entanto, a confirmar que o recurso à contratação a termo, face à letra da lei, adquiriu o carácter de regime-regra, o que colide com o direito à segurança no emprego que, como bem se salienta no Acórdão n.º 632/2008, implica «um direito à possível estabilidade do emprego que se procurou e obteve» e exclui «situações injustificadas de precariedade de emprego».
Assim, a mera possibilidade de lançamento de uma actividade de duração incerta e o início de laboração de empresa com menos de 750 trabalhadores (sendo que a estrutura empresarial da economia portuguesa é dominada por empresas com menos de 50 trabalhadores - em 2006, 99,4 % do total das empresas e 62,2 % do total do emprego) legitima desde logo que a entidade patronal possa contratar a termo, ainda que a esse vínculo corresponda um posto de trabalho permanente. Tomemos, por exemplo, o lançamento de um hipermercado - conhecidos pela elevada precarização dos seus trabalhadores - com menos de 750 trabalhadores: poderá, legalmente, contratar a termo trabalhadores para postos de trabalho permanentes.
Já na segunda hipótese aventada pela legislação em vigor está longe de estar assente a interpretação do conceito de primeiro emprego. Assim, para a corrente que entende que primeiro emprego é todo e qualquer emprego que não tenha sido exercido através de contrato sem termo, pode mesmo chegar-se à situação em que um trabalhador com 40 anos ou mais possa estar à procura do primeiro emprego face à sucessiva contratação a termo. Para estes casos, sendo a ratio legis desta norma o período de adaptação do trabalhador, tal solução está já consagrada através da existência de um período experimental.
Não se antolha, ainda, qual a razão de ser da contratação a termo de desempregados de longa duração ou de outra prevista em legislação de política de emprego, deixando-se aqui aos governos uma espécie de «cheque em branco» para a determinação de motivos que permitam o uso deste vínculo precário.
De facto, as normas impugnadas colidem com o artigo 53.º da Constituição na medida em que estas restrições ao princípio da segurança no emprego não se conformam com as exigências contidas no artigo 18.º dessa mesma Constituição, mormente com o cumprimento do princípio da proporcionalidade, inscrito na parte final do n.º 2 do referido preceito. Desdobrando-se tal princípio em exigências de adequação, necessidade e razoabilidade não se vê, finalmente, que estes motivos sejam restrições adequadas, necessárias ou razoáveis, por tudo quanto se vem de aduzir.
Subscreve-se, pois, a declaração de voto do conselheiro Armindo Ribeiro Mendes, no douto Acórdão n.º 581/95, onde se defende: «Não há razões materiais que justifiquem a solução legal de precarização do vínculo laboral relativamente a duas categorias de trabalhadores que não têm qualquer especificidade intrínseca: os trabalhadores que entram no mercado de trabalho pela primeira vez ('à procura do primeiro emprego') e os desempregados de longa duração. [...] No caso dos trabalhadores à procura do primeiro emprego, a existência de um período experimental, na lei, tutela suficientemente os interesses da entidade patronal, para o caso de se verificar desinteresse, inadaptação ou falta de qualidade profissional desses trabalhadores. O mesmo se diga, de resto, quanto à contratação de desempregados de longa duração. A solução legal carece de motivo constitucionalmente justificado nestes dois casos, não se vislumbrando qual a razão por que há-de ter carácter temporário a prestação de trabalho por quem procura o seu primeiro emprego ou esteve longo tempo desempregado [...]»
Nos termos do n.º 1 do artigo 163.º, qualquer das partes pode pôr termo à comissão de serviço, mediante aviso prévio por escrito, com uma antecedência de 30 a 60 dias, consoante o tempo que aquela tenha durado.
Tratando-se de um trabalhador da empresa ou de um trabalhador externo que tenha celebrado também um acordo de permanência, cessada a comissão de serviço, este manter-se-á ao serviço da empresa, a exercer a actividade desempenhada antes da comissão de serviço ou a correspondente à categoria a que tenha sido promovido ou à actividade prevista no acordo.
Sendo, porém, um trabalhador externo à empresa, sem que tenha havido qualquer acordo sobre a sua permanência na empresa após o termo da comissão de serviço, o termo da comissão implica também, automaticamente, o termo do correspondente contrato de trabalho.
Ora isto significa que, nesta situação, o contrato de trabalho em comissão de serviço pode cessar em qualquer momento, por iniciativa de qualquer das partes, sem invocação de qualquer justificação. Trata-se, assim, de um despedimento livre que não obedece à proibição de despedimento sem justa causa. É esta submodalidade de «comissão de serviço sem garantia de emprego» (utilizando a expressão do Professor Jorge Leite) que suscita dúvidas sobre a sua conformidade com o artigo 53.º da Constituição.
Reiteram-se, a este respeito, as afirmações contidas na declaração de voto do conselheiro Monteiro Dinis, no mesmo Acórdão n.º 64/91, onde se defende a sujeição do trabalho prestado em comissão de serviço às garantias constitucionais aplicáveis em matéria de segurança no emprego: «Tem-se por seguro que o trabalho prestado em regime de comissão de serviço não pode deixar de estar sujeito ao regime jurídico do contrato individual de trabalho, enquanto se traduz na prestação de certa actividade, mediante retribuição, a outra pessoa, sob a sua autoridade e direcção.»
A este propósito, relembra-se, também, o afirmado em declaração de voto pelo conselheiro Ribeiro Mendes, no mesmo acórdão, ao invocar a violação do artigo 53.º da Constituição: «A norma em causa permite que haja trabalhadores contratados para exercer funções dirigentes na empresa (ou cargos de secretariado pessoal), em que o próprio contrato de admissão prevê que, a qualquer momento, a entidade patronal pode denunciá-lo unilateralmente, mediante indemnização, sem ter de invocar justa causa ou uma qualquer causa de caducidade do contrato.» Continua-se, depois, explicando que esses trabalhadores são «trabalhadores por conta de outrem, mesmo que vinculados por uma especial relação fiduciária», estando, portanto, abrangidos pela «garantia constitucional de segurança no emprego», não podendo ser admitidos em relação a eles os despedimentos arbitrários ou ad nutum, por mera denúncia contratual do empregador. Não se trata nem de cargo de confiança política, como no direito administrativo, nem estão em causa apenas, no âmbito desta figura, cargos de administração nas sociedades de capitais que, esses sim, não estão sujeitos ao domínio do direito laboral.
O Código do Trabalho promove a desregulamentação dos horários de trabalho e cria mesmo novas figuras - como a adaptabilidade individual (artigo 205.º), a adaptabilidade grupal (artigo 206.º), o banco de horas (artigo 208.º) e os horários concentrados (artigo 209.º) - que visam colocar na esfera da entidade patronal a determinação dos tempos de trabalho e a possibilidade do alargamento da jornada de trabalho diária até 12 horas (mais 4 horas por dia) e da jornada de trabalho semanal até 60 horas (mais 20 horas por semana).
A limitação legal da duração diária e semanal do trabalho está ligada à protecção da saúde física e psíquica do trabalhador bem como à protecção da autodisponibilidade do seu tempo segundo os seus interesses e preferências, em actividades familiares, recreativas, sociais, cívicas, culturais ou outras (v. Jorge Leite, Direito do Trabalho, vol. 1, p. 88).
A referida limitação da duração diária e semanal do tempo de trabalho decorre do direito «ao repouso e aos lazeres, a um limite máximo da jornada de trabalho, ao descanso semanal e a férias periódicas pagas», previsto no artigo 59.º, n.º 1, alínea d), da Constituição. Este direito, por sua vez, liga-se ao direito à saúde (artigo 64.º) e deve conjugar-se não só com «o direito a constituir família e o direito à conciliação da vida profissional com a vida familiar e pessoal» [artigos 36.º e 59.º, alínea b)], mas também, mais em geral, com a liberdade pessoal e o direito ao livre desenvolvimento da personalidade (artigo 26.º). E constitui um direito de natureza análoga aos direitos, liberdades e garantias, nos termos do artigo 17.º (Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, 4.ª ed., Coimbra, 2007, vol. 1, pp. 773 e 774). Além disso, cabe ao Estado garantir que, também em matéria de fixação do horário de trabalho, não haja lugar ao retrocesso social.
A adaptabilidade individual (artigo 205.º, n.º 4) não exige o acordo expresso do trabalhador, valendo o seu silêncio como aceitação. Ora, é de ter em consideração que nas relações laborais não há igualdade mas antes subordinação e que tal facto pode condicionar o silêncio do trabalhador, vendo-se obrigado a um regime horário contrário à sua vontade.
Admita-se, ainda, como exemplo um trabalhador que toma conhecimento da proposta da entidade patronal no dia anterior ao seu período de férias ou que fica doente e impossibilitado de prestar trabalho - o facto de nada ter dito implicará, forçosamente, o seu consentimento!
A protecção constitucional dada à limitação da jornada de trabalho impede que se equipare a acordo o consentimento presumido do trabalhador.
A adaptabilidade grupal (artigo 206.º), inserida numa linha de debilitação do estatuto dos trabalhadores, estende o regime de adaptabilidade colectiva aos trabalhadores não abrangidos pelo instrumento de regulamentação colectiva de trabalho que a institui desde que esta se aplique a, pelo menos, 65 % dos trabalhadores de uma equipa, secção ou unidade económica. Estende, também, o regime de adaptabilidade individual a todos os trabalhadores de uma estrutura considerada e que expressamente declararam não aceitar trabalhar no regime de adaptabilidade do tempo de trabalho desde que aceite, ou pelo menos, que presumidamente aceite, por 75 % dos trabalhadores dessa estrutura.
Trata-se de uma adaptabilidade forçada, não resultante de acordo, colectivo ou individual, que é imposta por lei mesmo até contra a vontade manifestada pelos trabalhadores.
Em matéria de flexibilidade do tempo de trabalho e de alteração de horários de trabalho, só o princípio da aceitação de cada trabalhador, sem imposições legais escudadas em decisões de maiorias, pode garantir a conciliação da actividade profissional com a vida pessoal e familiar, na medida em que só desta forma os interesses e razões pessoais e familiares dos trabalhadores podem ser tidos em consideração.
A norma impõe que a disponibilidade de uma maioria de trabalhadores para aceitar um regime de adaptabilidade de tempo de trabalho se sobreponha às situações específicas de cada trabalhador individualmente considerado e que poderiam motivar a sua não aceitação, violando assim os seus direitos, nomeadamente o direito previsto no artigo 59.º, n.º 1, alínea b), da Constituição.
O banco de horas (artigo 208.º) incorpora um novo mecanismo de adaptabilidade do tempo de trabalho, a instituir por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho, nos termos do qual o período normal de trabalho pode ser aumentado até 4 horas diárias, 60 mensais e 200 anuais, com formas de compensação igualmente reguladas em instrumento de regulamentação colectiva de trabalho.
Trata-se de mais um mecanismo de flexibilidade de organização do tempo de trabalho, criado no exclusivo interesse dos empregadores, em relação ao qual não se suscita sequer a necessidade de aceitação por parte dos trabalhadores individualmente considerados.
As previsões legais existentes de dispensa da prestação de trabalho, em regime de banco de horas, de vários grupos de trabalhadores, designadamente trabalhadores menores, trabalhadoras grávidas puérperas ou lactantes, trabalhadores com deficiência ou doença crónica e dos trabalhadores-estudantes, sempre que o acréscimo de trabalho coincida com o horário escolar ou com prova de avaliação, podem, porém, em situações concretamente consideradas, não abranger a totalidade dos trabalhadores que detenham interesses ou razões pessoais e familiares, que devam ser tidos em consideração e que justifiquem também a sua dispensa, alcançada através da não aceitação desse regime por parte desses trabalhadores.
Nestes termos, a não previsão no artigo 208.º da necessidade de aceitação individual e em concreto por parte dos trabalhadores deste novo regime de adaptabilidade viola, por omissão, o artigo 59.º, n.º 1, alínea b), da Constituição.
No regime de horário concentrado (artigo 209.º), instituído por acordo entre empregador e trabalhador ou por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho, é possibilitada a concentração do período semanal de trabalho em apenas alguns dias da semana, com acréscimo até quatro horas.
As afirmações acima efectuadas sobre o regime do banco de horas, relativamente à dispensa de grupos de trabalhadores e à necessidade de existência de disposição normativa que obrigue à aceitação do trabalhador, são igualmente válidas para o regime do horário concentrado, pelo que se verifica a referida violação do artigo 59.º da Constituição.
O artigo 356.º, n.º 1, do actual Código do Trabalho veio facilitar os despedimentos ao eliminar a obrigatoriedade da instrução nos respectivos processos disciplinares.
O despedimento por iniciativa do empregador deve, em nome da segurança no trabalho e da proibição dos despedimentos sem justa causa, ser precedida de um conjunto de formalidades destinadas, em regra, a dar prévio conhecimento ao trabalhador dos respectivos motivos e a possibilitar-lhe a sua defesa.
Ora, a eliminação da obrigatoriedade da instrução em processo disciplinar, que nos termos do n.º 1 do artigo 356.º passa a depender da vontade do empregador (ou seja, de uma das partes no processo), é susceptível de violar quer o princípio do contraditório quer o princípio do direito de defesa, consagrados expressamente no artigo 32.º da Constituição em relação ao processo criminal, mas que, por serem garantias que estão no próprio cerne do princípio do Estado de direito democrático, devem ter-se por inerentes a todos os processos sancionatórios, qualquer que seja a sua natureza.
Parece claramente ofensivo das garantias que a Constituição considera inerentes a qualquer processo sancionatório o facto de se colocar nas mãos da parte acusadora o poder de decidir se a parte acusada tem direito à realização das diligências probatórias destinadas ao apuramento da verdade dos factos.
Estamos, portanto, perante uma restrição do alcance e conteúdo do direito de defesa que a Constituição, no seu artigo 32.º, veda expressamente ao legislador ordinário.
Acresce que o despedimento produz efeitos de imediato e é susceptível de prejudicar gravemente o trabalhador, sendo certo que este fica a partir desse momento sem o seu salário - o seu meio de subsistência - além de todos os demais efeitos patrimoniais e não patrimoniais que o despedimento e o imediato afastamento do local de trabalho acarretam.
Este artigo 356.º do Código do Trabalho afecta, também, o princípio da segurança no emprego. Efectivamente, o princípio da segurança no emprego e o princípio da proibição dos despedimentos sem justa causa visam, primordialmente, garantir a estabilidade da posição do trabalhador na relação de trabalho e de emprego e a sua não funcionalização aos interesses da entidade patronal ou à mera conveniência da empresa, pelo que a admissibilidade dos despedimentos por iniciativa da entidade patronal foi sempre rodeada de um particular sistema legal de garantias substantivas e procedimentais, cuja restrição corresponderá à compressão daqueles princípios constitucionais.
Neste quadro, o aligeiramento das exigências procedimentais em matéria de processo disciplinar resultante do disposto no artigo 356.º do Código, bem como a descaracterização da sanção pela violação destas mesmas exigências (através do afastamento do princípio da reintegração previsto na ampla excepção do artigo 389.º, n.º 2), é susceptível de restringir o princípio da segurança no emprego consagrado no artigo 53.º da Constituição.
Aliás, não se vislumbra qual o bem que se pretende proteger com tal restrição (afirmação válida para todas as restrições operadas pelas normas que se têm vindo a invocar) que não se prenda com o interesse das entidades patronais, interesse já antigo, em flexibilizar e aligeirar os procedimentos conducentes à cessação dos contratos de trabalho.
É, também, inconstitucional o regime de oposição à reintegração do trabalhador previsto no artigo 392.º do Código do Trabalho, que foi já objecto de diferentes acórdãos do Tribunal Constitucional e de intenso debate doutrinal.
Esta norma permite exactamente o que o artigo 53.º da Constituição visa proibir: que o trabalhador seja efectivamente despedido apesar da ilicitude do despedimento. E fá-lo em relação à generalidade dos trabalhadores, pois que se encontram maioritariamente empregados em microempresas.
Mantêm-se válidos os argumentos aduzidos no Acórdão n.º 107/88, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 2.º, alínea d), do Decreto da Assembleia da República n.º 81/V 2, que permitia a substituição da reintegração do trabalhador por indemnização.
Este regime de não reintegração é ainda mais preocupante quando ligado à supressão da fase da instrução do procedimento disciplinar, podendo o trabalhador ser imediatamente afastado da empresa e impedido, sem retorno, de recuperar o seu posto de trabalho quando ilicitamente despedido.
Acresce que, na actual situação económica e social, a norma pode assumir um amplo domínio de aplicação que faz acrescer os motivos de preocupação. Na verdade, o tecido económico do País é composto essencialmente por pequenas unidades empresariais, sendo estas responsáveis pela maior parte do emprego.
Foi, aliás, esse o entendimento expresso na declaração sufragada por vários conselheiros, aquando do Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 306/2003, os quais entenderam que o artigo 438.º, n.os 2, 3 e 4, do Código do Trabalho de 2003 ao admitir a não reintegração do trabalhador de microempresa ou que ocupe cargo de administração ou direcção despedido sem justa causa violava o direito à segurança no emprego, mesmo sabendo-se que competiria a um tribunal, e não ao empregador, apreciar se os fundamentos de não reintegração se verificam ou não. De facto, entenderam os conselheiros que da proibição constitucional dos despedimentos sem justa causa decorre o direito à reintegração, isto é, à reconstituição natural da situação existente no momento do despedimento ilícito. A norma que permite inviabilizar tal direito nem tem previsão constitucional nem assenta «numa ponderação de valores constitucionalmente fundada».
V., ainda, o que escreveu em declaração de voto, no mesmo Acórdão, o conselheiro Mário Torres: «E também é significativo que o primeiro dos direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores constitucionalmente consagrado seja o direito à segurança no emprego, com destaque para a garantia contra despedimentos sem justa causa: 'trata-se de uma expressão directa do direito ao trabalho (artigo 58.º), o qual, em certo sentido, consubstancia um aspecto do próprio direito à vida dos trabalhadores' (Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, 3.ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, 1993, pp. 285 e 286). O carácter vital deste direito acentua a sua radical fundamentalidade: como se disse no Acórdão n.º 581/95, a proibição dos despedimentos sem justa causa é 'a garantia da garantia'. [...] Se o acto que extingue o contrato vem, afinal, a revelar-se antijurídico, a única reacção adequada do ordenamento jurídico compatível com o sistema da estabilidade é a de privar aquele acto da sua consequência normal, determinando a sua invalidade e consequente subsistência do vínculo contratual. A 'monetarização' do despedimento como alternativa à reintegração permitiria, afinal, à entidade empregadora aquilo que a CRP quer, manifestamente, proibir - 'desembaraçar-se' do trabalhador apesar de não haver causa legítima de despedimento.»
A garantia constitucional da segurança no emprego significa, num certo sentido, como afirmam Gomes Canotilho e Vital Moreira, uma «alteração qualitativa do estatuto do titular da empresa» que, assim, «não goza de liberdade de disposição sobre as relações de trabalho» (Constituição da República Portuguesa Anotada, 3.ª ed., Coimbra, 1993, p. 287). Na teleologia da norma do artigo 53.º da Constituição está pois a ideia de que a estabilidade do emprego envolve uma «resistência» aos desígnios do empregador, que ela não pode ser posta em causa por mero exercício da vontade deste.
A delicadeza desta questão, apreciada no Acórdão n.º 306/2003, que decidiu pela não inconstitucionalidade da norma, quedou reflectida no aresto, tendo a decisão dividido o Tribunal Constitucional numa votação que registou sete votos favoráveis e seis votos contra.
A possibilidade de oposição à reintegração a pedido do empregador, a par do já referido carácter facultativo da instrução no processo disciplinar, demonstram que «o Código corrói a garantia constitucional da segurança no emprego, afectando dois dos seus pilares (o pilar procedimental e o pilar reintegratório) e implicando uma indiscutível perda de pujança do princípio da invalidade do despedimento contra legem.» (João Leal Amado, Temas Laborais, Coimbra, 2005, p. 130).
A proibição da reintegração, a pedido da entidade patronal, configura-se como uma limitação desproporcional ao princípio da segurança no emprego, não se configurando adequada, nem tão-pouco necessária e muito menos razoável face ao bem jurídico protegido pelo artigo 53.º em confronto com os interesses que a não reintegração visa salvaguardar.
A possibilidade de adesão individual, aberta com o artigo 497.º, reconhecendo ao trabalhador sem filiação sindical o direito de individualmente escolher a convenção colectiva ou decisão arbitral que pretende que lhe seja aplicada, sempre que na respectiva empresa sejam aplicáveis uma ou mais convenções colectivas ou decisões arbitrais, além de desnecessária é atentatória dos direitos das associações sindicais e dos seus associados.
É desnecessária porque a lei já previa, e continua a prever, o mecanismo de extensão dos convenções colectivas e decisões arbitrais, que permite alargar o âmbito originário da convenção a trabalhadores e a empregadores e nomeadamente aos trabalhadores sem filiação sindical.
Atenta contra os direitos das associações sindicais, pois a Constituição consagra a competência destas para cumprir o desiderato fundamental de defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores que representem, o direito de contratação colectiva (artigo 56.º, n.º 3, da Constituição).
Este é, pois, «um direito, de natureza colectiva, dos trabalhadores, em cuja representação agem as associações sindicais. [...] Em sede constitucional, porém, tal direito não é reconhecido a mais nenhuma outra categoria ou entidade.» (José Barros Moura, A Convenção Colectiva entre as Fontes de Direito do Trabalho, Coimbra, 1984, p. 230).
De facto, o direito de contratação colectiva, enquanto direito dos trabalhadores «significa, designadamente, o direito de regularem colectivamente as relações de trabalho com os empregadores ou as suas associações representativas, substituindo o fraco poder contratual do trabalhador individual pelo poder colectivo organizado do sindicato». (Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, 4.ª ed., Coimbra, 2007, p. 744.)
Esta norma, ao permitir que o trabalhador, que voluntariamente optou por não ser sindicalizado, adira a uma convenção colectiva ou decisão arbitral em substituição da sua filiação no sindicato outorgante constitui um mecanismo que pode incentivar a não filiação sindical e a desfiliação sindical com o consequente enfraquecimento dos sindicatos e, por outro lado, dada a subordinação económica do trabalhador à entidade patronal, o artigo 497.º permite ainda que este influencie a escolha daquele e, mesmo, a sua desfiliação do sindicato em que estiver inscrito.
Qualquer das situações referidas poderá determinar a violação do direito de liberdade de inscrição sindical, na dupla vertente positiva e negativa deste direito.
Os artigos 501.º do Código do Trabalho e 10.º da lei preambular vêm estabelecer um sistema de sobrevigência e caducidade das convenções colectivas que atenta contra a liberdade sindical e o direito de contratação colectiva.
A posição dos parceiros sociais nunca é de verdadeira igualdade, como, aliás, a própria Constituição reconhece ao dar protecção específica apenas às associações sindicais, enquanto representantes dos interesses dos trabalhadores em face das entidades patronais.
A desigualdade das partes nas relações laborais assume particular importância nos direitos de exercício colectivo e, particularmente, na contratação colectiva. De facto, foi através da contratação colectiva que os trabalhadores conquistaram um significativo acervo de direitos (como é o caso da limitação da jornada de trabalho), que as normas agora previstas, ao fazer caducar as convenções colectivas, põem em causa mesmo relativamente aos direitos adquiridos.
O legislador determina, verificados os pressupostos aí previstos, a «morte» das convenções colectivas, mesmo aquelas que contenham uma disposição no sentido de que apenas caducarão quando forem substituídas por nova convenção.
Ora, como se constata a partir dos avisos sobre a data da cessação da vigência de convenções colectivas publicadas até ao presente, na esmagadora maioria dos casos, para não dizer a totalidade, à publicação do referido aviso não se seguiu a celebração de nova convenção colectiva, originando a criação de um vazio contratual, vazio este que constitui uma verdadeira negação/violação da obrigação constitucional que impende sobre a lei de garantir o exercício do direito de contratação colectiva, que assiste às associações sindicais (artigo 56.º, n.os 3 e 4, da Constituição).
A presente lei, à revelia da Constituição, vem reconhecer às associações de empregadores o direito de fazerem caducar as convenções colectivas e o direito de não negociarem/celebrarem convenções colectivas.
Criam-se, assim, situações de vazio normativo em que não há qualquer convenção colectiva em vigor. Em consequência, as associações sindicais são obrigadas a negociar novas convenções colectivas sob a pressão da caducidade das convenções colectivas anteriores e os trabalhadores ficam, entretanto, privados dos direitos nelas consignados.
Porém, conforme reconheceu o Tribunal Constitucional no Acórdão n.º 306/2003, a garantia do direito da contratação colectiva (artigo 56.º, n.º 3, da Constituição) «implica uma actuação positiva do legislador no sentido de fomentar a contratação colectiva, alargar ao máximo o seu âmbito de protecção, manter a contratação vigente e evitar o alastramento de vazios de regulamentação».
O Tribunal, apesar da fundamentação aduzida contra a caducidade das convenções colectivas não substituídas e dos diversos votos de vencido, acabou por não declarar a inconstitucionalidade da norma em causa mas apenas no pressuposto «de que a caducidade da eficácia normativa da convenção não impede que os efeitos desse regime se mantenham quanto aos contratos individuais de trabalho celebrados na sua vigência e às respectivas renovações».
Ora, é precisamente este pressuposto que o n.º 6 do artigo 501.º (em conjugação com o disposto no restante artigo e com o artigo 10.º da lei preambular) vem deitar por terra.
Nos termos da lei, apenas se mantêm em vigor os efeitos em que as partes acordem ou, na sua falta, os relativos a: retribuição do trabalhador, categoria e respectiva definição; duração do tempo de trabalho, e regimes de protecção social cujos benefícios sejam substitutivos dos assegurados pelo regime geral de segurança social ou com protocolo de substituição do Serviço Nacional de Saúde.
As disposições legais relativas à caducidade e sobrevigência das convenções colectivas, que agora se impugnam, revogam, de uma penada, o regime de inderrogabilidade das convenções colectivas e deixam por terra o princípio do favor laboratoris que dá corpo ao direito constitucional do trabalho.
Tais normas implicam uma espécie de «estaca zero» da contratação colectiva cada vez que uma convenção caduque, voltando, por essa via, à «estaca zero» a luta por melhores condições de trabalho, o que acontecerá ciclicamente por força da caducidade imposta pelo n.º 1 do artigo 501.º
Subscrevem-se, a este respeito, as afirmações da conselheira Maria Fernanda Palma, em declaração aposta ao Acórdão n.º 306/03: «a caducidade das convenções colectivas de trabalho [...], permite um vazio de regulamentação que atinge sobretudo as medidas protectoras dos trabalhadores e desequilibra a posição destes perante os empregadores na negociação de convenções de trabalho. Na verdade, os trabalhadores são constrangidos a negociar novas convenções e a aceitar, eventualmente, cláusulas menos favoráveis, na medida em que se perfila como alternativa a caducidade das convenções anteriores e um eventual vazio de regulamentação ou as condições mínimas previstas na lei. [...] O sentido do direito à contratação colectiva como direito fundamental fica, assim, desvirtuado, operando-se uma mutação funcional de conceitos valorativos que pressupõe, aqui como no ponto anterior, uma revisão pela lei ordinária da 'Constituição laboral'.»
4 - Notificada para se pronunciar, querendo, sobre o pedido, a Assembleia da República ofereceu o merecimento dos autos e entregou cópia da documentação relativa aos trabalhos preparatórios da Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro.
Elaborado o memorando a que se refere o artigo 63.º, n.º 2, da Lei do Tribunal Constitucional, e tendo este sido submetido a debate, cumpre agora decidir de acordo com a orientação que o Tribunal fixou.
II - Fundamentação. - 5 - Conflito entre fontes de regulação. - O requerente levanta a questão da constitucionalidade de todo o artigo 3.º do Código do Trabalho. Mas, na verdade, de forma imediata é antes de mais a constitucionalidade do n.º 1 que está em causa.
O problema levantado radica no facto de o n.º 1 do artigo 3.º da actual versão do Código do Trabalho permitir o afastamento da lei laboral por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho (IRCT) (convenções colectivas de trabalho e instrumentos não negociais, como as portarias de extensão e as decisões arbitrais).
O requerente considera esta possibilidade inconstitucional e invoca os artigos 2.º, 9.º, alíneas b) e d), 58.º, 59.º e 81.º, alíneas a) e b), para defender que a Constituição garante «um estatuto laboral mínimo de protecção» que se traduziria no chamado princípio do tratamento mais favorável do trabalhador.
Referindo-se expressamente ao problema do valor dos IRCT, Gomes Canotilho e Vital Moreira defendem a impossibilidade de a lei poder consentir o seu próprio afastamento por IRCT: «[as convenções colectivas de trabalho] têm obviamente eficácia infralegislativa, não podendo contrariar a lei imperativa; a lei não pode sequer consentir ela mesma a sua derrogação por convenção colectiva, por força do artigo 112.º, n.º [5], mas não está impedida de estabelecer regimes mínimos ou supletivos {Código do Trabalho, artigo [3.º]}» (Constituição da República Portuguesa Anotada, 4.ª ed., Coimbra, Coimbra Editora, 2007, p. 748).
O preceito do n.º 1 do artigo 3.º do Código do Trabalho é idêntico ao n.º 1 do artigo 4.º da versão de 2003, o qual por sua vez viera pôr em crise o tradicional princípio do tratamento mais favorável do trabalhador que aparecia enunciado no artigo 13.º da antiga Lei do Contrato de Trabalho, que dispunha: «As fontes superiores prevalecem sempre sobre as fontes inferiores, salvo na parte em que estas, sem oposição daquelas, estabeleçam tratamento mais favorável ao trabalhador.»
Deve, no entanto, começar por se dizer que o preceito do n.º 1 do artigo 3.º do Código do Trabalho aparece mitigado.
Desde logo, o n.º 2 proíbe que a lei seja afastada por portaria de condições de trabalho [esta disposição surgiu na sequência da pronúncia do Tribunal Constitucional, em sede de fiscalização preventiva, no Acórdão n.º 306/2003, publicado no Diário da República, 1.ª série-A, de 18 de Julho de 2003, onde ficou decidido que as portarias de condições de trabalho violam o artigo 112.º, n.º 6 (actual n.º 7), da Constituição pois «têm carácter normativo inovatório» e 'não se ligam a nenhum instrumento de regulamentação colectiva negocial anterior»].
Além disso, o n.º 3 - aditado em 2009, provavelmente na sequência da discussão que a questão suscitou (v. Livro Branco da Relações Laborais, pp. 98 e 99) - elenca, em 13 alíneas, uma série de matérias relativamente às quais os instrumentos de regulamentação colectiva só podem afastar a lei se dispuserem em sentido mais favorável ao trabalhador (mantendo, pois, a lei a lógica do princípio do tratamento mais favorável em determinadas matérias que se consideram nucleares).
Relativamente a estas matérias, a lei assegura um mínimo imperativo (garantido) aos trabalhadores, estando os IRCT absolutamente impedidos de regulamentar in pejus.
Como explica Maria do Rosário Ramalho, Direito do Trabalho, parte i, 2.ª ed., Coimbra, Almedina, 2009, p. 280, a respeito do princípio do tratamento mais favorável na actual versão do artigo 3.º do Código do Trabalho que data de 2009: «Assim, no que se refere a esta matéria, o actual Código do Trabalho ficou a meio caminho entre a legislação tradicional nesta matéria (que tinha a exigência máxima quanto ao requisito da maior favorabilidade para o afastamento da lei pelas convenções colectivas de trabalho) e o Código do Trabalho de 2003, que perfilhava o entendimento oposto. Em suma, trata-se de uma solução de compromisso, uma vez que se mantém o princípio da supletividade geral das normas legais perante as convenções colectivas de trabalho, mas se atenua esse princípio com a exigência da maior favorabilidade em matérias mais significativas do ponto de vista das garantias dos trabalhadores.»
Também Monteiro Fernandes, Direito do Trabalho, 14.ª ed., Coimbra, Almedina, 2009, pp. 125 e segs.) sustenta que: «[N]ão está em causa o primado da lei imperativa. Tal como na LCT, em que se falava de 'oposição' da lei, o CT obsta ao 'afastamento' das normas legais por fonte inferior, quando daquelas normas 'resultar o contrário', isto é, que não podem ser afastadas. São duas maneiras de dizer a mesma coisa. [...] No CT, o ponto de partida da operação interpretativa-qualificativa incidente sobre a norma legal (para se poder aplicar a fonte inferior de conteúdo diferente) já não é a presunção de que essa norma admite variação em sentido mais favorável ao trabalhador mas a de que admite variação em qualquer dos sentidos. Tal presunção só é afastada se da norma legal resultar inequivocamente que nenhuma variação é legítima ou que só o será num dos sentidos possíveis, ou seja, usando as palavras da lei, 'se dela resultar o contrário'. Tal é a 'posição de princípio' adoptada pelo legislador de 2003 e mantida (como tal) na revisão de 2009 (artigo 3.º, n.º 1). No entanto, o Código revisto restringe fortemente o alcance dessa directiva geral. O artigo 3.º, n.º 3, supõe a prevalência do tratamento mais favorável, relativamente a um largo elenco de matérias, no qual se compreende tudo o que pode considerar-se essencial na construção do estatuto sócio-laboral derivado para o trabalhador do contrato de trabalho.»
O requerente contesta ainda, assim, a possibilidade de afastamento de normas legais por normas constantes de IRCT que possam ser de sentido menos favorável ao trabalhador. Coloca-se, então, a questão do estatuto constitucional do princípio do tratamento mais favorável do trabalhador.
Resta saber se tal princípio possui força constitucional, impondo-se ao próprio legislador e se implicará a regra da imperatividade da lei, entendida como norma mínima, em face das convenções colectivas de trabalho.
Ainda na doutrina, Jorge Leite [«Código do Trabalho - Algumas questões de (in)constitucionalidade», in Questões Laborais, n.º 22, ano x, 2003, p. 274] considera que uma norma (como o artigo 3.º, n.º 1, do Código do Trabalho) que permita o afastamento da lei por IRCT é inconstitucional, concluindo: «Mal se compreenderia, aliás, como poderá o Estado desempenhar a incumbência constitucional de assegurar as condições de trabalho (n.º 2 do artigo 59.º) - de todas e não apenas das que enumera a título exemplificativo nas alíneas do número do citado artigo - se a lei que as estabelece permitir, ao mesmo tempo, o seu afastamento por convenção colectiva.»
No mesmo sentido, Milena Rouxinol («O princípio do tratamento mais favorável», in Questões Laborais, n.º 28, ano x, 2006, pp. 174 e 175), depois de fazer coincidir o princípio do tratamento mais favorável com o princípio da norma mínima, afirma: «O princípio da norma mínima traduz-se assim numa apreensão da problematicidade concreta na esfera da normatividade jurídica. Com efeito, não se vê como pode lograr-se o desiderato de compensação da desigualdade fáctica e jurídica entre trabalhador e empregador se os mínimos legais puderem ser afastados in pejus por instrumentos hierarquicamente inferiores [...] Em direito do trabalho, a justiça repõe-se pela desigualdade, de modo que se as forças sindicais assentirem na redução dos mínimos legais de tutela do trabalhador, ainda que tal opção seja assumida em situação de equilíbrio negocial, resultará gorada a protecção que o legislador defere ao - ainda e sempre - contraente débil da relação laboral e frustrado o propósito de justiça material.»
A questão não se pode, porém, limitar à existência, ou não, de um princípio do tratamento mais favorável. Será sempre necessário saber qual é o seu exacto sentido e alcance constitucional. Implicará ele realmente um «princípio da norma mínima», como pretende alguma doutrina? E exigirá um tal princípio, caso se aceite, uma regra de imperatividade da lei (e dos mínimos de protecção que ela contém) não apenas em face do contrato individual de trabalho mas, também, em face dos instrumentos de regulamentação colectiva?
Não há dúvida de que o conjunto dos direitos dos trabalhadores associados à ideia de democracia económica, social e cultural nos induzem a afirmar que a Constituição pretende dar um «tratamento favorável», uma especial protecção àquelas pessoas que trabalham num vínculo de subordinação, vivendo e alimentando-se a si e às suas famílias geralmente com base na retribuição resultante desse trabalho. É esta ideia que justifica a generalidade dos direitos e garantias dos trabalhadores e a uma tal ideia justificadora poderemos chamar princípio do tratamento mais favorável do trabalhador.
Todavia, ainda que se admita um tal princípio do tratamento mais favorável, a sua validade constitucional nunca nos exime da questão das suas condicionantes e limites. A pura e simples defesa do princípio do tratamento mais favorável, no contexto de um determinado modelo de Estado (o Estado social), das tarefas que lhe correspondem e dos direitos económico-sociais dos trabalhadores não é suficiente. Esta posição tem de se inserir num contexto mais vasto.
Não se trata aqui de compreender genericamente que os regimes jurídico-laborais de protecção favorável aos trabalhadores (favor laboratoris) podem porventura estar em confronto directo com a competitividade dos mercados e com a estabilidade e crescimento das economias, num contexto globalizado em que actuam outras economias e mercados emergentes (v. Consuelo Ferreiro, «La crisis del principio favor laboratoris», in Questões laborais, n.º 31, 2008, pp. 35 e segs.). Está, sim, em causa a inserção do princípio no contexto normativo da Constituição da República Portuguesa.
Na verdade, e desde logo, os direitos e garantias dos trabalhadores individualmente considerados que a Constituição protege devem conciliar-se com outros direitos ou interesses constitucionalmente relevantes.
Deve, desde logo, ter-se em consideração a livre iniciativa económica privada (artigo 61.º da Constituição) que é, na sua essência, «iniciativa económico-produtiva de carácter empresarial», envolvendo «uma dupla faceta - organizativa e operacional» [Evaristo Mendes, anotação ao artigo 61.º, Constituição Portuguesa Anotada, t. i, 2.ª ed., Jorge Miranda e Rui Medeiros (orgs.), Coimbra, Coimbra Editora, 2010, pp. 1182-1183]. Trata-se, portanto, de uma liberdade de organização da empresa e da actividade empresarial.
Finalmente, os direitos individuais dos trabalhadores não poderão ser isolados dos direitos colectivos desses mesmos trabalhadores, incluindo-se aqui o direito à contratação colectiva (artigo 56.º, n.os 3 e 4) pois também eles fazem parte do regime global de protecção do trabalhador que a Constituição institui.
É pois necessário ter em consideração o teor do artigo 56.º, n.º 4, da Constituição, que consagra o direito à contratação colectiva. De facto, a Constituição atribui à lei, nos termos do artigo 56.º, n.º 4, a competência para estabelecer as regras respeitantes à eficácia das normas das convenções colectivas de trabalho (literalmente diz: «A lei estabelece as regras respeitantes à legitimidade para a celebração das convenções colectivas de trabalho, bem como à eficácia das respectivas normas.»). É evidente que não se trata de colocar poderes ilimitados nas mãos do legislador. Mas atendendo a que na regulamentação colectiva, que é por definição de exercício colectivo, os interesses dos trabalhadores individuais parecem já devidamente acautelados, admite-se que, dentro das margens dos direitos dos trabalhadores constitucionalmente traçadas, o legislador possa admitir a derrogação de algumas das suas normas, num sentido mais ou menos favorável em relação ao que cada uma dessas normas estabelece (o que não significa necessariamente que, no seu conjunto, a convenção colectiva seja menos favorável aos trabalhadores).
Por outro lado, o direito à contratação colectiva e a autonomia colectiva têm de ser vistos como instrumentos ao serviço dos diversos direitos dos trabalhadores e não como um obstáculo desses direitos.
De resto, é necessário fazer uma distinção entre autonomia colectiva e autonomia individual. Compreende-se mais facilmente a imperatividade em face de um contrato individual de trabalho onde o trabalhador aparece, por definição, como a parte mais fraca do que em face de instrumentos de regulamentação colectiva negociados por associações sindicais no seio das quais os trabalhadores aparecem numa relação distinta da subordinação que caracteriza a sua posição em face das entidades patronais.
Como se diz no Livro Branco que apoiou a preparação da versão do Código do Trabalho de 2009:
«O argumento da igualdade de poderes negociais é, em larga medida, válido, até porque as associações de empregadores enfermam de fraquezas semelhantes às das associações sindicais. Sendo assim, o alargamento da negociabilidade mostrar-se-ia vantajoso para a dinâmica da contratação colectiva sem representar necessariamente risco para os trabalhadores.»
As convenções colectivas permitem uma regulamentação mais adequada às necessidades específicas de cada sector de actividade ou empresa do que a lei geral. É por isso que tendem a ter maior importância. Monteiro Fernandes (Direito do Trabalho, cit., pp. 691 e segs.) fala até de uma sequência esquemática - «autonomia individual, heteronomia, autonomia colectiva» - que corresponderia à linha evolutiva do direito do trabalho. Esclarecendo, depois, que «a combinação da autonomia colectiva e da heteronomia pode, naturalmente, ser doseada de modo variável de sistema para sistema. Em todo o caso - continua - a radicação da autonomia colectiva (pela sua mesma aderência à realidade social) tende a reduzir a importância quantitativa e o papel inovatório da regulamentação de origem estadual [...]»
De facto, o artigo 3.º, n.º 1, estabelece uma presunção de supletividade da lei em relação aos instrumentos de regulamentação colectiva, mas não transforma todas as normas legais em normas supletivas. Pelo contrário, faz menção expressa à possibilidade de, por interpretação, se concluir que a norma legal tem um carácter imperativo, não podendo, portanto, ser afastada por instrumento de regulamentação colectiva (v. Monteiro Fernandes, Direito do Trabalho, cit., p. 125).
Por fim, relembre-se novamente que há uma série de matérias em que a lei assegura um estatuto mínimo mesmo em face da contratação colectiva. São, nos termos do artigo 3.º, n.º 3, do Código do Trabalho, as seguintes matérias relativamente às quais os instrumentos de regulamentação colectiva não podem dispor em sentido menos favorável à lei: a) direitos de personalidade, igualdade e não discriminação; b) protecção na parentalidade; c) trabalho de menores; d) trabalhador com capacidade de trabalho reduzida, com deficiência ou doença crónica; e) trabalhador-estudante; f) dever de informação do empregador; g) limites à duração dos períodos normais de trabalho diário e semanal; h) duração mínima dos períodos de repouso, incluindo a duração mínima do período anual de férias; i) duração máxima do trabalho dos trabalhadores nocturnos; j) forma dem cumprimento e garantias da retribuição; l) capítulo sobre prevenção e reparação de acidentes de trabalho e doenças profissionais e legislação que o regulamenta; m) transmissão de empre ou estabelecimento; n) direitos dos representantes eleitos dos trabalhadores. Em todas estas matérias de maior importância, nucleare na relação de trabalho, mantém vigência o princípio do tratamento mais favorável.
Tendo em conta os termos da parte final dos n.os 1 e 3 do artigo 3.º, o legislador cumpre claramente o mandato constitucional, consubstanciado no disposto no artigo 59.º, n.º 2, da CRP, de fixação de um núcleo irredutível em que é manifesta a preocupação da protecção dos interesses dos trabalhadores.
Acresce que o espaço (como vimos mais limitado do que poderia à primeira vista parecer) que a lei dá à autonomia colectiva afigura-se amplamente justificado à luz do direito de contratação colectiva (artigo 56.º, n.º 4). Note-se que terá necessariamente de se partir do princípio de que esse direito é, globalmente, exercido em benefício dos trabalhadores.
Relembre-se, a este respeito, que por vezes «a contratação colectiva pode ser um processo de troca de certas vantagens emergentes da lei por outras que as entidades representativas dos trabalhadores considerem mais interessantes» (Bernardo Xavier, «A jurisprudência constitucional e o direito do trabalho», p. 231, in XXV Anos de Jurisprudência Constitucional Portuguesa, Coimbra, Coimbra Editora, 2009, p. 231, n. 62). A lógica de uma rígida prevalência hierárquica da lei em face das convenções colectivas pressupõe uma comparação norma a norma. Ora, muitas vezes pode suceder que uma norma específica constante de uma CCT seja menos favorável do que a lei, mas o conjunto normativo constante da mesma, através de um jogo de compensações, já não o seja.
Tendo tudo isto em consideração, deverá concluir-se que o n.º 1 e em consequência os n.os 2 a 5 do artigo 3.º do Código do Trabalho não padecem de qualquer inconstitucionalidade.
6 - Admissibilidade de contrato de trabalho a termo resolutivo. - O Código do Trabalho admite, segundo o requerente, no n.º 4 do artigo 140.º duas situações de contratação a termo de gritante inconstitucionalidade. Diz, na verdade, a lei que pode ser celebrado contrato a termo para: a) «[l]ançamento de nova actividade de duração incerta, bem como início de laboração de empresa ou de estabelecimento pertencente a empresa com menos de 750 trabalhadores»; e b) «[c]ontratação de trabalhador à procura de primeiro emprego, em situação de desemprego de longa duração ou noutra prevista em legislação especial de política de emprego».
O requerente contesta a admissibilidade constitucional do contrato a termo nestas duas situações, afirmando que tal possibilidade viola o direito à segurança no emprego (artigo 53.º da Constituição).
A admissibilidade do contrato a prazo é, em Portugal, originária do Decreto-Lei n.º 781/76, onde era admitido, em termos gerais, quando se verificasse «a natureza transitória do trabalho a prestar». Com o Decreto-Lei n.º 64-A/89 passou-se do anterior sistema de cláusula geral para um sistema, mais restritivo, de enumeração taxativa. Ainda actualmente, e em nome da segurança e estabilidade no emprego, o contrato a termo só é permitido em situações taxativamente previstas.
Todas essas situações devem ser vistas como «restrições» ao direito à segurança no emprego, devendo, por isso, apresentar justificação suficiente em vista da importância do bem jurídico «segurança no emprego».
Neste sentido, disse o Tribunal no Acórdão n.º 581/95, publicado no Diário da República, 1.ª série-A, de 22 de Janeiro de 1996:
«Se o contrato a termo fosse admitido como regra, então a entidade empregadora optaria sistematicamente por essa forma, contornando a estabilidade programada no artigo 53.º da Constituição. Como afirmam Gomes Canotilho e Vital Moreira, a garantia da segurança no emprego 'perderia qualquer significado prático se, por exemplo, a relação de trabalho estivesse sujeita a prazos mais ou menos curtos, pois nesta situação o empregador não precisaria de despedir, bastando-lhe não renovar a relação jurídica no termo do prazo. O trabalho a prazo é por natureza precário, o que é contrário à segurança' (Constituição da República Portuguesa Anotada, cit., p. 289).»
A garantia constitucional da segurança no emprego significa, pois, que a relação de trabalho temporalmente indeterminada é a regra e o contrato a termo a excepção. Esta forma contratual há-de ter uma razão de ser objectiva.
É certo que «o contrato a termo é por natureza precário; o que é contrário à segurança» (Gomes Canotilho/Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, cit., p. 711). Ele constitui, por definição, uma restrição do direito à segurança no emprego.
É também certo que há inúmeras desvantagens económicas, sociais e individuais da contratação a termo (Júlio Gomes, Direito do Trabalho, vol. i, Coimbra, Coimbra Editora, 2007, pp. 582-584). Elas inserem-se no contexto geral das desvantagens económicas e sociais da precariedade laboral.
Contudo, «mais do que insistir na natureza excepcional da lei que admite o recurso aos contratos a termo (Acórdãos n.os 581/95 e 659/97), numa leitura centrada na garantia da segurança no emprego, o que importa sublinhar é que as situações de precariedade na relação de trabalho devem ter em si mesmas uma justificação (Acórdão n.º 683/99) e resultar de uma adequada ponderação dos direitos e interesses conflituantes» [Rui Medeiros, anotação ao artigo 53.º, Constituição Portuguesa Anotada, Jorge Miranda e Rui Medeiros (orgs.), cit., p. 1060].
Importa, pois, analisar se o contrato a termo se justifica nas situações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 140.º do Código do Trabalho.
Trata-se de duas situações excepcionais em que se permite a contratação a termo de trabalhadores que não vão realizar actividades transitórias e que, pelo contrário, podem vir a ser afectados à actividade permanente da empresa. É, como vimos, o caso de «lançamento de nova actividade de duração incerta, bem como início de laboração de empresa ou de estabelecimento pertencente a empresa com menos de 750 trabalhadores» e o caso de «contratação de trabalhador à procura de primeiro emprego, em situação de desemprego de longa duração ou noutra prevista em legislação especial de política de emprego».
Vamos inseri-los no contexto.
O n.º 1 do artigo 140.º do Código do Trabalho admite, numa cláusula geral, o contrato a termo celebrado para satisfação de «necessidade temporária da empresa» (e pelo período estritamente necessário à satisfação dessa necessidade). O n.º 2 do mesmo artigo enumera exemplificativamente tipos de situações que se podem enquadrar no conceito de «necessidade temporária da empresa».
No contrato a termo encontram-se, porém, situações de natureza distinta obedecendo a distintas racionalidades (v. Jorge Leite, «Contrato de trabalho a prazo», in Questões Laborais, n.º 27, ano xiii, 2006, p. 7). É o que se pode ver comparando não só as hipóteses previstas nos n.os 1 e 2 do artigo 140.º entre si mas principalmente comparando aquelas hipóteses com as duas que constam, separadamente, do n.º 4 desse mesmo artigo.
«As duas situações previstas no n.º 4 do artigo 140.º, agora impugnadas, não correspondem a necessidades transitórias ou temporárias da empresa, tendo, portanto, que estar expressamente previstas para serem admissíveis» (Maria Irene Gomes, «Consideração sobre o regime jurídico do contrato a termo certo no Código do Trabalho», in Questões Laborais, n.º 24, ano xi, 2004, p. 150). O que o requerente impugna é precisamente a possibilidade de existência de situações de contrato a termo que não correspondem a uma necessidade temporária da empresa mas antes a postos de trabalho permanentes. Na verdade, nestas duas situações permite-se a «contratação a termo de trabalhadores que podem vir a ser afectados à realização de actividades permanentes e por conseguinte não temporárias» (Júlio Gomes, Direito do Trabalho, cit., p. 597).
As normas das alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 140.º do Código do Trabalho, agora impugnadas, correspondem, no seu conteúdo, respectivamente às normas das alíneas e) e h) do artigo 41.º do diploma anexo ao Decreto-Lei n.º 64-A/89, de 27 de Fevereiro (que foi entretanto revogado e substituído pela Lei n.º 99/2003, que aprovou o Código do Trabalho de 2003).
Na verdade, o citado diploma de 1989 já admitia, no seu artigo 41.º, a celebração de contrato a termo em caso de «lançamento de uma nova actividade de duração incerta, bem como o início de laboração de uma empresa ou estabelecimento» [alínea e)] e em caso de «contratação de trabalhadores à procura de primeiro emprego ou de desempregados de longa duração ou noutras situações previstas em legislação especial de política de emprego» [alínea h)].
Assim, não há diferença relevante (a única diferença está no facto de a nova lei ser mais restritiva no que toca à admissibilidade dos contratos a termo para lançamento de nova empresa, não admitindo tal possibilidade no que respeita a grandes empresas com mais de 750 trabalhadores - mas esta diferença da lei nova só aponta no sentido, desejado pelo requerente, da limitação dos contratos a termo). O que se diz sobre a lei antiga valerá pois, por analogia (ou até por maioria de razão tendo em conta a pequena diferença assinalada), para a actual lei.
E importa ter em conta que os conteúdos normativos agora impugnados foram já objecto de apreciação por parte deste Tribunal, no Acórdão n.º 581/95, cujos fundamentos se irão seguir de perto dada a similitude das situações.
V., primeiro, o que disse o Tribunal sobre o contrato a termo para lançamento de nova actividade de duração incerta, bem como início de laboração de empresa ou de estabelecimento pertencente a empresa [artigos 41.º do Decreto-Lei n.º 64-A/89 e 140.º, n.º, 4, alínea a), do Código do Trabalho].
Disse a tal respeito o Tribunal:
«A norma do artigo 41.º, n.º 1, alínea e), determina que o contrato de trabalho a termo é admitido nos casos de 'lançamento de uma nova actividade de duração incerta bem como o início de laboração de uma empresa ou estabelecimento'. Esta norma está em relação próxima com a norma do artigo 48.º, que então afasta a admissibilidade do termo incerto, e com a norma do artigo 44.º, n.º 3, que determina que, nos mesmos casos, 'a duração do contrato, haja ou não renovação, não pode exceder dois anos'.
Na norma da alínea e), o legislador atendeu a que as situações de 'lançamento de uma nova actividade de duração incerta' e 'início de laboração de uma empresa ou estabelecimento' justificavam a admissibilidade do contrato a termo. Essas situações são, como diz Bernardo Xavier, relativas a 'segmentos da actividade do empregador não consolidados' (Curso de Direito do Trabalho, Lisboa, Verbo, 1992, p. 468). Ora, não pode afirmar-se a ilegitimidade de uma norma como aquela. O legislador teve ali em conta a 'natureza das coisas' e adequou a essa natureza o sentido da lei: a entidade empregadora que se propõe uma actividade por tempo incerto ou que abre a empresa, pela primeira vez, aos riscos do mercado, não tem base segura de calculabilidade quanto aos recursos humanos. Por isso que lhe não é exigível - e não é assim exigível ao legislador que determine - a adopção da modalidade regra do contrato de trabalho por tempo indeterminado.
Esta ordenação do sentido da lei à natureza das situações da vida é, aliás, denotada pelo recurso ao 'método tipológico' de descrição de grupos de casos, empreendido pelo legislador no artigo 41.º Como diz Larenz, 'a natureza das coisas remete para a forma de pensamento do tipo, pois que o tipo é algo de relativamente concreto, um universale in re. Ao invés do conceito geral abstracto, não é definível mas tão-só explicitável, não fechado, mas aberto, interliga, torna conscientes conexões de sentido' (ob. cit., p. 158).
Por outro lado, diz o mesmo autor, 'a natureza das coisas é de grande importância em conexão com a exigência de justiça de tratar igualmente aquilo que é igual, desigualmente, aquilo que é desigual [...] ela exige ao legislador que diferencie adequadamente' (ob. cit., p. 507).
Ora, é isso que se passa na norma do artigo 41.º, alínea e), aqui em apreço: a diferenciação que estabelece está justificada na peculiar configuração da realidade que regula. O desvio ao regime-regra dos contratos por tempo indeterminado não afronta, pois, nem a garantia da segurança no emprego nem o princípio constitucional da igualdade.»
Nesta mesma linha, podemos também afirmar: é certo que há uma restrição ao direito à segurança no emprego (artigo 53.º), mas ela é justificada por outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos (artigo 18.º, n.º 2, da Constituição). Trata-se de apoiar a livre iniciativa económica privada (artigo 61.º, n.º 1, da Constituição), promovendo assim a «transformação e modernização das estruturas económicas e sociais» [artigo 9.º, alínea d)] e contribuindo para a possível universalização do «direito ao trabalho» (artigo 58.º, n.º 1) que corresponderia ao objectivo constitucional do «pleno emprego» [artigo 58.º, n.º 2, alínea a), todos da Constituição da República Portuguesa].
No que se refere aos contratos a termo celebrados com trabalhadores à procura de primeiro emprego ou desempregados de longa duração [artigo 41.º, n.º 1, alínea h), da correspondente ao actual artigo 140.º, n.º 4, alínea b), do Código do Trabalho], disse, ainda, o Tribunal no citado Acórdão n.º 581/95:
«O artigo 41.º, n.º 1, alínea h), determina a admissibilidade de celebração de contratos a termo com 'trabalhadores [à procura de primeiro emprego] e desempregados de longa duração ou noutras situações previstas em legislação especial de política de emprego'. É assim que o Governo-legislador concretiza o programa anunciado no preâmbulo, de 'absorção de maior volume de emprego, favorecendo os grupos socialmente mais vulneráveis'.
Quando no pedido se afirma que aquela norma contraria a Constituição porque 'admite a contratação a termo mesmo que não haja outra justificação para tal [...] sem que se verifique o carácter temporário da mão-de-obra' querer-se-á significar que, aqui, ao invés dos casos anteriores enunciados no artigo 41.º, não está em causa a natureza do trabalho a prestar, mas, na expressão de Bernardo Xavier, uma 'causa subjectiva' do contrato a termo.
É verdade que a norma do artigo 41.º, n.º 1, alínea h), tem uma lógica própria, no sentido de que ela se radica numa ratio que tem em conta a qualidade dos trabalhadores-destinatários. O que se pretende, está bem de ver, é estimular a celebração de contratos de trabalho pela convicção de inexistência de riscos para a entidade empregadora. Essa convicção de inexistência de riscos é induzida pela não adstrição a um vínculo de tempo indeterminado.
[...] O que se passa antes é que o legislador modela o contrato de trabalho sobre uma ponderação que sopesa a alternativa de limitá-lo no tempo [criando na entidade empregadora a convicção de inexistência de riscos] ou de o não proporcionar aos próprios interessados [mantendo aquela convicção do risco e as consequências da liberdade de não contratar].
[...] se a garantia de segurança no emprego está em relação com a efectividade do direito ao trabalho (CRP, artigo 58.º) e se a Constituição comete ao Estado a incumbência de realização de políticas de pleno emprego, em nome também da efectividade desse direito [CRP, artigo 58.º, n.º 3, alínea a)], então não se pode dizer que é ilegítima aquela ponderação nem que são ultrapassados os limites de conformação que aí são postos ao legislador. Conformação que é restritiva, sem dúvida, se atendermos aos mandados de optimização das normas sobre direitos fundamentais. Mas que empreende uma ponderação justificada. Na verdade, o que está em análise é a justificação de uma norma que, assentando numa pressuposta 'menos-valia' da experiência profissional daqueles candidatos ao emprego, consagra uma opção de alargamento dos casos de contratação a termo. [...]»
Neste caso, trata-se pura e simplesmente de fomentar o emprego, protegendo determinadas categorias de pessoas que se apresentam como mais vulneráveis no contexto do mercado de trabalho, dentro da lógica constitucional da universalização do direito ao trabalho [artigo 58.º, n.os 1 e 2, alínea a)].
Paula Quintas, em crítica ao Acórdão n.º 581/95, diz que esta norma do Código do Trabalho, que permite a contratação de trabalhadores à procura de primeiro emprego ou de desempregados de longa duração, introduz uma excessiva precariedade precisamente «para quem possui maior vulnerabilidade e menor capacidade reivindicativa e negocial e que, no que respeita às pessoas à procura de primeira emprego, subestima a figura do período experimental» («A precariedade - Trabalhadores à procura de primeiro emprego», Questões Laborais, ano xi, 2004, p. 238).
A norma visa reduzir o risco do empregador na contratação levando-o assim a contratar pessoas que, de outro modo, seriam, em condições normais, preteridas nos processos de recrutamento de pessoal. A restrição à segurança no trabalho é pois justificada pela própria lógica da universalização do direito ao trabalho [artigo 58.º, n.os 1 e 2, alínea a), da Constituição].
O argumento do período experimental, por seu turno, não procede, pois a tal diferenciação positiva que a norma visa introduzir na contratação não seria provavelmente suficientemente forte apenas com o período experimental nos contratos por tempo indeterminado, com os limites que a lei traça.
O requerente relembra ainda, no que respeita à contratação de trabalhadores à procura de primeiro emprego, que está longe de estar fixada a interpretação do conceito de «primeiro emprego» e que, em última análise, se poderá considerar como estando à procura de primeiro emprego qualquer trabalhador que nunca tenha celebrado contrato por tempo indeterminado.
No entanto, o que releva é que o contrato a termo não se apresenta, na previsão do Código do Trabalho em vigor, como um contrato destituído de quaisquer garantias de segurança. Salientem-se, apenas, as exigências de forma escrita (artigo 141.º, n.º 1), com indicação expressa da razão da contratação a termo [artigos 141.º, n.º 1, alínea e), e 140.º, n.º 5], a conversão do contrato a termo em contrato por tempo indeterminado verificadas determinadas circunstâncias (artigo 147.º, n.º 2), os limites estabelecidos no que respeita à duração do contrato a termo (artigos 140.º, n.º 1, e 148.º), a proibição de substituir trabalhador contratado a termo que cesse funções durante determinado período (artigo 143.º, n.º 1) ou a compensação por caducidade do contrato a termo (artigos 343.º, n.os 2 e 3, e 344.º, n.º 4, todos do Código do Trabalho).
No que especificamente respeita às hipóteses previstas no artigo 140.º, n.º 4, é necessário ter, ainda, em consideração a cautela que o legislador teve na redução dos prazos máximos de celebração do contrato a termo que em vez dos três anos, que valem para a generalidade dos contratos, é de apenas dois anos e no caso de se tratar de pessoa à procura de primeiro emprego é de apenas 18 meses (artigo 148.º, n.º 1, do Código do Trabalho).
Pelo exposto, e sendo certo que não cabe ao Tribunal Constitucional sindicar a opção feita pelo legislador das medidas legislativas criadas para fomentar o emprego e a actividade empresarial, mas tão-somente pronunciar-se sobre se as apresentadas ao seu exame revestem a devida «ponderação justificada», é de concluir que as normas constantes das alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 140.º do Código do Trabalho não merecem qualquer juízo de inconstitucionalidade.
7 - Cessação de comissão de serviço. - O requerente entende que é inconstitucional o artigo 163.º, n.º 1, do Código do Trabalho. Ele não questiona a admissibilidade da comissão de serviço e da sua cessação mediante simples aviso prévio. Contesta, apenas, a possibilidade de haver comissões de serviço com trabalhadores externos à empresa e sem acordo de permanência, em que é possível o empregador pôr termo a tais comissões e aos correspondentes contratos de trabalho mediante simples aviso prévio.
Estas reservas em face do regime legal são compartilhadas por Jorge Leite («A comissão de serviço», in Questões Laborais, n.º 16, Coimbra Editora, ano vii, 2000, p. 158): «O problema não é, com efeito, saber se o empregador pode, mesmo sem justa causa, pôr termo à comissão de serviço [...]; o problema é o de saber se à decisão do empregador de pôr termo, sem justa causa, à comissão de serviço pode corresponder a perda (automática) do emprego do trabalhador. É que ou o despedimento em que, afinal, se traduz aquela decisão é lícito e, nessa hipótese, nada lhe acrescenta o exigido consentimento prévio do trabalhador, ou é ilícito e, neste caso, a ilicitude não seria excluída pelo prévio consentimento do titular do respectivo direito indisponível.»
No mesmo sentido depõe Júlio Gomes (Direito do Trabalho, cit., p. 753): «Nesta última hipótese de o contrato ser celebrado com trabalhador não vinculado anteriormente, é necessário que o acordo para o exercício de cargo em regime de comissão de serviço indique qual a actividade que o trabalhador irá exercer quando a comissão de serviço cessar, se for esse o caso. Tal significa que no silêncio do acordo celebrado com um trabalhador 'externo' a cessação da comissão de serviço acarreta agora a cessação do próprio contrato de trabalho. Uma vez que, para a doutrina existente na matéria, o trabalho prestado em regime de comissão de serviço é trabalho subordinado, não compreendemos como é que esta situação é considerada compatível com a exigência constitucionalmente consagrada de justa causa para o despedimento. Tal exigência deveria, desde logo, traduzir-se na inadmissibilidade de uma denúncia por parte do empregador, de um contrato de trabalho subordinado, permitindo-se apenas a resolução de tal contrato pelo empregador, ou melhor, o seu despedimento.»
Não está então em causa a possibilidade, proibida pelo artigo 53.º da Constituição, do despedimento sem justa causa?
Na comissão de serviço, a lei autoriza o fim da mesma, a todo o tempo, mediante pré-aviso, por mera vontade do empregador, sem nenhum tipo de justificação (diversamente do que sucede no contrato a termo em que este termina pela cessação da razão específica legalmente prevista da contratação e do contrato por tempo indeterminado em que o empregador só pode pôr unilateralmente termo ao contrato por despedimento com justa causa, seja ela subjectiva ou objectiva).
A figura da comissão de serviço é originária do direito administrativo e foi introduzida no âmbito do direito do trabalho pelo Decreto-Lei n.º 404/91, de 16 de Outubro. Já nesse diploma se previa a figura da comissão de serviço de trabalhador externo sem garantia de emprego, por acordo das partes [artigo 4.º, n.º 3, alínea a), in fine]. A diferença, embora relevante, é o facto de, no actual regime do Código do Trabalho, a cessação da comissão de serviço implicar automaticamente a extinção do próprio contrato de trabalho, ao invés do regime anterior em que, na falta de convenção das partes em sentido contrário, esse contrato de trabalho se mantinha (v. Irene Gomes, «A comissão de serviço», in A Reforma do Código do Trabalho, ob. col., Coimbra, Coimbra Editora, 2004, pp. 367 e 368).
Seja como for, a questão posta pelo requerente está globalmente dirigida à própria admissibilidade da figura da comissão de serviço de trabalhador externo sem garantia de emprego (independentemente de se presumir ou não o acordo das partes sobre esse regime).
Esta questão que agora se coloca - comissão de serviço de trabalhador externo sem garantia de emprego - já foi analisada no Acórdão n.º 64/91, publicado no Diário da República, 1.ª série-A, de 11 de Abril de 1991, por motivo de fiscalização preventiva do Decreto n.º 302/V da Assembleia da República, que veio dar origem ao Decreto-Lei n.º 404/91. No respectivo processo, o Presidente da República questionou a constitucionalidade da norma que permitia que trabalhadores especialmente contratados para exercer funções dirigentes ou de secretariado pessoal em regime de comissão de serviço celebrassem acordo com a entidade patronal, estabelecendo que, uma vez cessada a mesma, se extinguiria o próprio contrato.
Na apreciação da constitucionalidade começou o Tribunal por tecer as considerações gerais a respeito da comissão de serviço de pessoal dirigente que se seguem:
«A prestação de trabalho em regime de comissão de serviço não se afigura globalmente susceptível de censura jurídico-constitucional, correspondendo à já apontada autonomização do estatuto do pessoal dirigente, ampliado de forma a abranger os trabalhadores de secretariado pessoal dos cargos dirigentes. A inovação visada corresponde a uma evolução ocorrida em outras ordens jurídicas da Europa Ocidental no sentido de serem contrariadas tendências niveladoras anteriores, de tal forma que seja acentuado o elemento fiduciário de tais categorias, verificando-se ainda que a subordinação do pessoal dirigente aparece 'articulada com uma posição de poder na organização do trabalho', características estas susceptíveis de justificar, por exemplo, regimes privativos no tocante ao despedimento, à duração do trabalho, à admissibilidade do contrato a termo (A. L. Monteiro Fernandes, ob. cit., p. 152).»
Depois, o Tribunal respondeu à questão da admissibilidade constitucional do acordo de cessação do contrato de trabalho por mero efeito da cessação da comissão de serviço, nos termos seguintes:
«Foi entendido que os cargos dirigentes ou a eles equiparados se revestem de um evidente carácter fiduciário, de tal forma que, pela sua própria natureza, são exercidos pelos titulares de forma precária, estando subjacente sempre uma ideia de que a todo o tempo pode cessar a comissão, por decisão de qualquer das partes no contrato. Não está legalmente excluído que as partes possam apor um termo a este contrato. Em algumas dessas funções, nomeadamente nas funções de administração, tem-se predominantemente entendido que se não está perante um contrato de trabalho, mas antes perante um contrato de mandato ou de prestação de serviço em regime liberal, como, aliás, foi aventado durante o debate parlamentar desta proposta de lei.
Em outros, porém, especialmente nos de secretariado pessoal, existe prestação de serviços ou de trabalho, embora com regime próprio. Mas também então se verifica aquela modificação no conteúdo ou na essencialidade do dever de lealdade, que Monteiro Fernandes (ob. cit., p. 190) considera típica dos 'cargos de direcção ou de confiança': 'a obrigação de lealdade constitui uma parcela essencial, e não apenas acessória, da posição jurídica do trabalhador'. Não necessita este Tribunal de dirimir a questão de saber se o carácter fiduciário (e, portanto, a diferente ponderação em que a fidelidade pessoal e adequação funcional objectiva determinam o conteúdo dos deveres do prestador de serviços) implica a constituição de um tipo contratual distinto do contrato de trabalho. Bastará ao Tribunal reconhecer que, nestes casos, há fundamento material para um regime de cessação do contrato, restrito ao contrato ou acordo de comissão de serviço, que o fará terminar com a cessação da relação de confiança considerada essencial. Nestes casos, a quebra de relação fiduciária torna absolutamente impossível o serviço comissionado, como se de impossibilidade objectiva se tratasse, não tendo sentido falar-se de derrogação de normas inderrogáveis a este propósito.
Assim se conclui que, para todas estas hipóteses, não vale o princípio de segurança do emprego consagrado no artigo 53.º da Constituição. Daí o juízo de que a norma questionada não está afectada de inconstitucionalidade material.»
O Tribunal concluiu, pois, que nestes casos «não vale o princípio de segurança do emprego consagrado no artigo 53.º da Constituição», por a situação não caber no âmbito de aplicação da norma.
Não se vêem razões para alterar o então decidido.
Assim, havendo comissão de serviço, a tutela do trabalhador é apenas de carácter indemnizatório. Nos termos do actual Código, o mesmo trabalhador terá direito a uma indemnização [artigo 164.º, n.º 1, alínea c)] cujo regime se equipara ao da indemnização por despedimento colectivo com justa causa objectiva (por motivos de mercado, estruturais ou tecnológicos), que está previsto no artigo 366.º do Código do Trabalho.
O artigo 163.º, n.º 1, do Código do Trabalho não viola, portanto, o direito à segurança no emprego consagrado no artigo 53.º da Constituição.
8 - Organização do tempo de trabalho. - O requerente afirma que o Código do Trabalho promove a desregulamentação dos tempos de trabalho ao admitir figuras, como a adaptabilidade individual (artigo 205.º), a adaptabilidade grupal (artigo 206.º), o banco de horas (artigo 208.º) e os horários concentrados (artigo 209.º, todos do Código do Trabalho), que visam colocar na esfera da entidade patronal a determinação dos tempos de trabalho, pondo assim em causa os legítimos direitos fundamentais do trabalhador ao «repouso e ao lazer» [artigo 59.º, n.º 1, alínea b)], o direito à organização do trabalho em condições socialmente dignificantes, de forma a facultar a realização pessoal e a permitir a conciliação da actividade profissional com a vida familiar [artigo 59.º, n.º 1, alínea b)] ligados, ainda ao direito à saúde (artigo 64.º) e ao direito ao livre desenvolvimento da personalidade (artigo 26.º, todos da Constituição da República Portuguesa).
Nos termos do n.º 1 do artigo 203.º do Código do Trabalho, «o período normal de trabalho não pode exceder oito horas por dia e quarenta horas por semana». Esta é a regra.
O Código prevê, contudo, mecanismos de organização do tempo de trabalho diversos do esquema semanal de oito horas por dia e quarenta horas semanais que permitam adequar os horários de trabalho às necessidades das empresas tendo em conta as variações mensais e anuais dos fluxos de trabalho.
Em todos esses mecanismos se prevê um aumento do número de horas que constituem o período normal de trabalho diário e ou semanal. Na adaptabilidade individual o empregador e trabalhador podem celebrar um acordo que preveja o aumento do período normal de trabalho diário até duas horas e que o trabalho semanal possa atingir cinquenta horas (artigo 205.º, n.º 2); no banco de horas permite-se um aumento até quatro horas do período normal de trabalho diário e até sessenta horas da duração de trabalho semanal (artigos 204.º, n.º 1, e 208.º, n.º 2). E no caso do horário concentrado o período normal de trabalho diário pode ser aumentado até quatro horas diárias (artigo 209.º, n.º 1).
Este aumento de horas diárias e semanais não vale como «trabalho suplementar» (nem corresponde a um regime de «isenção de horário»), o que significa que não é remunerado [salvo o caso excepcional previsto no artigo 208.º, n.º 4, alínea a), parte final, do Código do Trabalho]. Ele é, na generalidade dos casos, compensado através de uma correlativa redução de horas diárias ou semanais num outro momento, inserido dentro de um determinado período de referência. Nenhum destes esquemas altera, em termos médios, o período normal de trabalho. Trata-se de uma redistribuição dos tempos de trabalho, em vista de um horizonte temporal mais longo que o dia ou a semana. O aumento das horas de trabalho é feito para um período determinado e é, depois, compensado com a correlativa redução do tempo de trabalho num momento posterior.
É particularmente claro o que explica Luís Miguel Monteiro [anotação ao artigo 204.º, Código do Trabalho, Pedro Martínez et al. (orgs.), 7.ª ed., Coimbra: Almedina, 2009, pp. 506 e segs.] a respeito da adaptabilidade grupal, mas que vale também para a adaptabilidade individual, para o horário concentrado e para o banco de horas com compensação de tempo:
«A adaptabilidade do período normal de trabalho consiste no cálculo do tempo de trabalho em termos médios, num período predeterminado. O período normal de trabalho não é igual em todos os dias, nem em todas as semanas do ano, sendo antes adaptado às necessidades de produção empresarial, de modo a dosear o esforço e a disponibilidade exigidos aos trabalhadores em função do interesse produtivo.
Assim, o trabalhador poderá prestar mais horas de trabalho num determinado dia ou semana, desde que noutro dia ou semana trabalhe menos, de modo a que a média do tempo de trabalho num período definido seja de oito horas diárias e quarenta horas semanais. Por se tratar ainda do cumprimento do período de trabalho, não há alteração do montante da retribuição, nem possibilidade do trabalhador invocar motivo atendível para se escusar à prestação, como poderia acontecer tratando-se de trabalho suplementar.»
Só no caso excepcional do «banco de horas» é que está prevista a possibilidade de uma remuneração pecuniária [artigo 208.º, n.º 4, alínea a)]. Neste caso, o regime do banco de horas aproxima-se do regime do trabalho suplementar [Luís Miguel Monteiro, anotação ao artigo 208.º, Código do Trabalho, Pedro Martinez et al. (orgs.), cit., pp. 506 e segs. e p. 517].
A concreta actuação destes mecanismos pode resultar de duas possíveis fontes: 1) instrumento de regulamentação colectiva de trabalho (adaptabilidade grupal, banco de horas e horário concentrado); e 2) acordo entre o empregador e o trabalhador (adaptabilidade individual e o horário concentrado).
O requerente, mais do que atacar os mecanismos em si, defende que tais mecanismos, sendo total ou parcialmente alheios à vontade do trabalhador, impõem - de facto ou de direito - uma renúncia a direitos fundamentais dos trabalhadores individualmente considerados, sem os proteger suficientemente.
Salienta o requerente que os instrumentos de regulamentação colectiva vigoram nesta matéria, sem qualquer possibilidade de oposição individual em função da situação específica de cada trabalhador e, em certos casos, são mesmo impostas quando o trabalhador não tem qualquer filiação sindical, apenas pelo facto de uma determinada maioria de trabalhadores da mesma unidade empresarial ter aceite o mecanismo. O acordo individual, por seu turno, estaria configurado de forma a dificultar a possibilidade de oposição por parte do trabalhador que se encontra numa relação de subordinação jurídica e factual que inevitavelmente condiciona a sua liberdade. Vejamos estas duas hipóteses, começando pelo acordo individual.
O requerente contesta que a adaptabilidade individual se possa fazer sem o consentimento expresso do trabalhador, apenas com base no seu silêncio.
Deve, porém, começar por se dizer que se o empregador recorre a este mecanismo há-de ter uma razão justificativa para o fazer, no contexto da laboração da empresa, e é certamente ponderando, também, a posição dos outros trabalhadores em situação análoga seja em termos de categoria, retribuição ou quaisquer outras condições.
Depois, o facto de o silêncio não ter em geral valor declarativo (artigo 217.º do Código Civil), não significa que a lei não lhe possa conferir esse valor, quando se entenda que é razoável supor a diligência correspondente a um dever de resposta.
Além disso, o trabalhador tem a possibilidade de se opor ao regime da adaptabilidade. E o argumento de que essa possibilidade será meramente teórica dado que não se trata de uma relação entre iguais não procede. Na verdade, tal como o empregador deve ter razões justificativas para aplicar o regime da adaptabilidade, também, correlativamente, o trabalhador deverá ter razões que justifiquem a sua recusa. Se essas razões forem devidamente justificadas não se vê como possa o empregador razoavelmente recusá-las. O trabalhador pode opor-se por escrito (artigo 205.º, n.º 4, do Código do Trabalho). E, se o fizer, o empregador não lhe pode impor a adaptabilidade do período de trabalho.
O mesmo se diga, aliás, para o horário concentrado por acordo entre o empregador e o trabalhador [artigo 209.º, n.º 1, alínea a)], que o requerente também impugna. Ele não pode ser unilateralmente imposto e tem, neste caso, de resultar de um acordo de vontades entre o empregador e o trabalhador.
Estamos, pois, perante formas legítimas de restrição de direitos fundamentais, que se têm por justificadas porque previstas tendo em consideração os fins e objectivos em vista.
Segundo o requerente são também inconstitucionais as normas que permitem a organização do tempo de trabalho por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho, sem a necessidade de aceitação por parte dos trabalhadores ou, pelo menos, sem a possibilidade de oposição ou dispensa.
A adaptabilidade grupal impõe que a disponibilidade de uma maioria de trabalhadores para aceitar um regime de adaptabilidade de tempo de trabalho se sobreponha às situações específicas de cada trabalhador individualmente considerado»; o banco de horas é um mecanismo criado no exclusivo interesse dos empregadores, que prescinde da «necessidade de aceitação por parte dos trabalhadores individualmente considerados»; no horário concentrado, havendo instrumento de regulamentação colectiva, abdica-se da necessidade da sua aceitação.
Nestes casos, o trabalhador é obrigado a submeter-se a um regime instituído por IRCT, mesmo contra o estipulado no seu contrato de trabalho e contra a sua vontade.
O problema prende-se com a legitimidade das convenções colectivas de trabalho, com a possibilidade de extensão do seu regime e com a protecção dos direitos dos trabalhadores em situações específicas não contempladas nos instrumentos de regulamentação colectiva.
Os trabalhadores, ao decidirem filiar-se numa associação sindical, conferem a essa associação a faculdade de os representar perante as entidades patronais e ficam vinculados pelos acordos por estas celebrados durante a sua vigência (artigo 496.º, n.º 1), mesmo que posteriormente se desfiliem do sindicato (artigo 496.º, n.º 1). O fundamento para essa vinculação é a relação de representação que se estabelece entre o trabalhador e a entidade sindical em quem confia para colectivamente representar os seus interesses.
A possibilidade de extensão do regime das CCT em vigor a trabalhadores sindicalmente não filiados, por sua vez, funda-se no princípio da igualdade. Os trabalhadores que operam no quadro de uma mesma empresa ou de um mesmo sector devem estar sujeitos a um mesmo conjunto de condições de trabalho, a menos que haja uma razão válida para assim não suceder.
É constitucionalmente indiscutível que um trabalhador individual pode ficar vinculado por um instrumento colectivo de trabalho, fundado numa autonomia colectiva (artigo 56.º, n.º 3, da Constituição), sem necessidade da sua aceitação específica de tal instrumento.
A questão está no facto de tais instrumentos de regulamentação colectiva poderem colocar concretamente em causa direitos individuais dos trabalhadores.
Em abstracto, não há dúvida de que um instrumento de regulamentação colectiva que preveja uma forma variável de organização do tempo de trabalho diminui os períodos de descanso diários e semanais do trabalhador e, nessa medida, afecta o seu direito ao repouso [artigos 59.º, alínea d), e 17.º da Constituição]. Dado que existem ciclos biológicos no que respeita ao cansaço físico e intelectual, a concentração de trabalho num determinado período de tempo não é aritmeticamente compensada, em termos de repouso, através de uma correlativa redução de tempo num momento posterior mais ou menos distante. O direito ao repouso tem, portanto, de se relacionar com os ciclos naturais de resistência física e intelectual. E, nessa medida, todas as formas de flexibilização do período normal de trabalho representam uma restrição do direito ao repouso.
É também certo que um instrumento de regulamentação colectiva que preveja uma forma variável de organização do tempo de trabalho dificulta por regra «a conciliação da actividade profissional com a vida familiar» [artigos 59.º, alínea d), da Constituição]. Ora o cumprimento mínimo do direito à «organização do trabalho em condições socialmente dignificantes de modo a facultar a realização pessoal e a permitir a conciliação da actividade profissional com a vida familiar» pode considerar-se, ainda, uma exigência do direito ao livre desenvolvimento da personalidade (artigo 26.º) e do direito à família (artigo 36.º), sendo, por isso, um direito de natureza análoga aos direitos, liberdades e garantias (artigo 17.º, todos da Constituição). O acréscimo dos tempos de trabalho em determinados períodos torna, porém, mais exíguo o encontro familiar (em especial no âmbito da chamada família nuclear) e essa perda não é geralmente compensada pela redução posterior de tempo de trabalho, uma vez que os outros elementos da família não terão certamente as mesmas variações (isto é, acréscimos e reduções) nos seus horários laborais e escolares.
Deve, no entanto, considerar-se que, se uma convenção colectiva (eventualmente objecto de uma portaria de extensão) opta por tal solução é certamente por razões que reconhece como sendo do interesse global dos trabalhadores.
Há, com efeito, uma renúncia colectiva que a própria lei contém dentro de limites de proporcionalidade (ao estabelecer máximos) e que visa a realização de interesses que se consideram, num determinado momento devidamente delimitado, concretamente prevalecentes sobre o repouso e a vida familiar. Esses interesses poderão passar, nomeadamente, pela viabilidade económica da empresa e pela consequente manutenção dos postos e das condições de trabalho dos trabalhadores.
Coloca-se, contudo, ainda o problema final que é o de poder haver trabalhadores que são mais afectados pelo regime instituído pelos IRCT, podendo estes pôr em risco os seus direitos de personalidade (em especial os direitos à integridade física e moral, à saúde, e os direitos à parentalidade).
O Código do Trabalho prevê expressamente que a existência de filhos menores a cargo (parentalidade) implique a «dispensa de prestação de trabalho em regime de adaptabilidade» [artigo 35.º, n.º 1, alínea q), do Código do Trabalho].
Ora parece evidente que, à luz dos direitos e valores constitucionais [artigos 36.º, 59.º, n.º 1, alínea b), 67.º e 68.º, todos da Constituição da República Portuguesa], o conceito de «adaptabilidade» tem aqui de valer em sentido amplo de modo a abranger outras formas de organização do tempo de trabalho impostas por regulamentação colectiva de trabalho, como sejam o «banco de horas» (artigo 208.º) ou o «horário concentrado» (artigo 209.º do Código do Trabalho), estabelecidos por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho. Deste modo, a mesma dispensa de parentalidade, prevista no artigo 35.º, n.º 1, alínea q), do Código do Trabalho, terá de valer para o «horário concentrado» e para o «banco de horas» (neste último caso até por maioria de razão dada a amplitude dos limites máximos de horas legalmente estabelecidos). Estamos certamente perante um exemplo inequívoco de um regime legal em conformidade com os direitos e princípios constitucionais.
Além disso, não se compreenderia que a mesma dispensa não valesse por razões de saúde (artigo 64.º da Constituição) ou de integridade física e psíquica (artigo 25.º da Constituição) do trabalhador, visto tratar-se de direitos fundamentais que vinculam directamente as entidades privadas (artigo 18.º, n.º 1, da Constituição) e não podem ser postos em causa por convenção colectiva de trabalho (v. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, cit., p. 749).
Note-se, ainda, que o artigo 35.º, n.º 1, alínea q), do Código do Trabalho, que prevê a «dispensa de prestação de trabalho em regime de adaptabilidade», não pode ser afastado por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho [artigo 3.º, n.º 3, alínea a)] do Código.
Tendo tudo isto em vista, deve concluir-se que os artigos 205.º, 206.º, 208.º e 209.º do Código do Trabalho não padecem de qualquer inconstitucionalidade.
9 - Instrução facultativa no processo disciplinar. - O artigo 356.º, n.º 1, do Código do Trabalho estabelece que «cabe ao empregador decidir a realização das diligências probatórias requeridas na resposta à nota de culpa».
Como salienta Pedro Martínez, «Do novo regime resulta, basicamente, que a instrução passa a ser facultativa. Assim sendo, no despedimento com base em justa causa por facto imputável ao trabalhador, o procedimento disciplinar [...] pode ficar circunscrito à nota de culpa e respectiva resposta, sendo facultativa a instrução. Se o empregador não quiser fazer a instrução do processo, com base na nota de culpa e na correspondente resposta pode proferir a decisão fundamentada de despedimento» [anotação ao artigo 356.º, in Código do Trabalho, Pedro Martínez et al. (orgs.), cit., p. 803].
Anteriormente, nos termos do artigo 414.º, n.º 1, do Código do Trabalho de 2003, o empregador deveria proceder «às diligências probatórias requeridas na resposta à nota de culpa», a menos que as considerasse «patentemente dilatórias ou impertinentes, devendo, nesse caso, alegá-lo fundamentadamente por escrito». Este mesmo regime continua de resto a valer, nos termos do n.º 2 do artigo 356.º do novo Código, para «a trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, ou a trabalhador no gozo de licença parental». Mas tão-só nestes bem limitados casos.
Segundo o requerente, o artigo 356.º, n.º 1, do Código do Trabalho viola as garantias de defesa que estando constitucionalmente previstas no artigo 32.º da Constituição para o processo penal são igualmente aplicáveis nos processos sancionatórios, qualquer que seja a sua natureza. Apesar de não ser certo que se possam aplicar as garantias do artigo 32.º, sem mais, a todos os restantes processos sancionatórios, a verdade é que a Constituição contém para todos esses processos um preceito específico que é o n.º 10 do artigo 32.º, o qual determina que «nos processos de contra-ordenação, bem como quaisquer processos sancionatórios, são assegurados ao arguido os direitos de audiência e defesa». Ora Gomes Canotilho e Vital Moreira (Constituição da República Portuguesa Anotada, cit., p. 526) entendem que «o direito de audiência e defesa deve considerar-se inerente a todos os processos sancionatórios incluindo os de natureza privada (disciplina laboral, disciplina das organizações colectivas, etc.), como regra inerente à ordem jurídica de um Estado de direito».
Acrescenta, ainda, o requerente que o novo regime constitui uma violação do direito à segurança no emprego (artigo 53.º da Constituição). E na verdade, deve considerar-se que o direito à segurança no emprego (artigo 53.º da Constituição) tem, enquanto princípio de protecção do bem jurídico «trabalho», uma dimensão objectiva procedimental. A obrigatoriedade de um processo para a aplicação de sanções disciplinares de despedimento é uma garantia instrumental que confere consistência e efectividade ao direito à segurança no emprego.
A questão que se coloca é, contudo, a de saber qual a tramitação que tal processo deverá ter, por força dos artigos 32.º, n.º 10, e 53.º, n.º 1, da Constituição.
A Constituição exige certamente a audição do trabalhador, o seu direito de resposta à nota de culpa. E, estando em causa a sanção de despedimento com justa causa, exige, também, que a decisão do empregador seja fundamentada, pois só assim se garante que o empregador concluiu ponderadamente a existência de «justa causa» de despedimento e só assim se salvaguarda o direito do trabalhador se defender eficazmente numa eventual impugnação judicial da decisão da entidade empregadora. Exigirá, porém, a Constituição necessariamente uma fase instrutória?
Segundo a nova lei, é ao empregador que cumpre decidir se realiza ou não as diligências probatórias requeridas na resposta à nota de culpa. Tal decisão já lhe competia, porém, na vigência da anterior lei. Só que, como vimos, nos termos do artigo anteriormente vigente, o empregador só poderia recusar as diligências probatórias que considerasse «patentemente dilatórias ou impertinentes, devendo, nesse caso, alegá-lo fundamentadamente por escrito».
Agora, o empregador fica dispensado de fundamentar a recusa de diligências probatórias, caso entenda não as levar a cabo. A lei não se limitou a desonerar o empregador no acto de recusa das diligências abdicando porventura do advérbio «patentemente» que está referido às diligências consideradas dilatórias ou impertinentes.
A nova solução aumenta os riscos de uma decisão disciplinar errada, remetendo para um sucessivo momento judicial, algo que poderia ficar prevenido no processo disciplinar.
Desvaloriza, deste modo, a importância do procedimento disciplinar e da realização prévia de diligências probatórias: «O correcto desenvolvimento do procedimento disciplinar, com as partes a esgrimir efectiva e abertamente argumentos, potencia soluções negociadas, com ganhos evidentes para ambas. O acompanhamento da inquirição das testemunhas por ambas as partes permite-as avaliar melhor as respectivas posições. Por essa via é-lhes possível calcular com maior rigor os riscos, as vantagens e as desvantagens da acção judicial, potenciando aberturas para a celebração de acordos revogatórios. Acresce ainda que pode constituir uma forma de evitar a radicalização do conflito ou de minimizar os seus efeitos, o que terá evidentes virtualidades» (Albino Mendes Baptista, A Nova Acção de Impugnação do Despedimento e a Revisão do Código de Processo do Trabalho, Coimbra, Coimbra Editora, 2010, p. 35).
Além disso, já na vigência da anterior lei o empregador podia recusar as diligências probatórias requeridas pelo trabalhador, alegando naturalmente a sua desnecessidade ou desadequação. Essa solução já permitia, no essencial, garantir o empregador em face de algum tipo de possível abuso por parte do trabalhador, uma vez que a decisão lhe cabia a ele empregador.
Poderá então ser duvidoso que, tendo em conta a importância do bem jurídico em causa - o trabalho - respeite as exigências de adequação e equilíbrio (artigos 53.º, 32.º, n.º 10, e 18.º, n.º 2) a eliminação da mais elementar garantia de defesa de que o arguido num processo disciplinar pode dispor para além do seu direito de audiência, ou seja, exigir que as diligências probatórias que pede que a entidade empregadora realize não possam ser, de forma totalmente arbitrária, rejeitadas.
No caso da microempresas e dos cargos dirigentes deve ainda ter-se em conta a possibilidade legal de oposição de empregador à reintegração do trabalhador (artigo 392.º do Código do Trabalho), que constitui uma restrição ao «direito à reintegração» em caso de despedimento ilícito como consequência da proibição dos despedimentos sem justa causa. É que a colocação da defesa do trabalhador essencialmente na fase judicial pode potenciar o número de situações que dificultam ou inviabilizam uma posterior reintegração em caso de despedimento ilícito, resultante, porventura, de algum equívoco quanto aos factos (que poderiam, porventura, ser objecto de diligências probatórias) ou de alguma falha contextual de comunicação entre as partes (eventualmente, na própria audiência do trabalhador).
Não relevam, as razões, nomeadamente as sustentadas por alguns autores como sendo o sistema procedimental demasiado complexo. É o que sucede com Monteiro Fernandes (Direito do Trabalho, cit., p. 615) que diz o seguinte:
«Na realidade, a tramitação preparatória do despedimento disciplinar serve apenas para delimitar o motivo da ruptura - possibilitando a posterior impugnação judicial - e permitir que o trabalhador se defenda antes da consumação dela, obrigando à ponderação das suas razões pelo empregador. Não se trata, pois, de um procedimento que vise o 'apuramento da verdade' ou a 'realização da justiça' (a decisão será sempre a que melhor convenha ao empregador) e não faz, por isso, nenhum sentido invocar, como que por analogia, as garantias do processo criminal a que alude, nomeadamente, o artigo 32.º da CRP.
A hipertrofia procedimental do regime do despedimento disciplinar não tem, decerto, contribuído para que deixem de ocorrer despedimentos injustificados (ou para a salvaguarda de trabalhadores inocentes), mas forneceu seguramente pretextos para a inutilização de um bom número de despedimentos com verdadeira justa causa.»
Depois, é necessário não esquecer que a posição do trabalhador está salvaguardada, ao nível do processo disciplinar, não apenas através da sua audição prévia, ou seja, da resposta à nota de culpa (onde pode juntar os documentos que entender), mas, principalmente, através da necessidade da entidade patronal fundamentar a decisão final, devendo entender-se que «é na motivação do despedimento que reside o âmago (nomeadamente constitucional) da tutela efectiva da posição do trabalhador» (Nuno Abranches Pinto, Instituto Disciplinar Laboral, Coimbra, Coimbra Editora, 2009, p. 148, n. 325). São estes, essencialmente, os meios de audição e defesa (para utilizar a linguagem do artigo 32.º, n.º 10, da Constituição) que a lei prevê no âmbito do processo disciplinar.
Não concordamos com o que acaba de ser explanado.
Ao contrário, entendemos que a razão assiste ao requerente, porquanto o artigo 356.º, n.º 1, do Código do Trabalho viola as garantias de defesa aplicáveis a qualquer processo sancionatório, à luz do artigo 32.º, n.º 10, da Constituição da República Portuguesa.
O artigo 32.º, n.º 10, da Constituição impõe a observância dos direitos de audiência e de defesa do arguido em quaisquer processos sancionatórios. Não existem dúvidas de que o processo disciplinar laboral se apresenta como um dos processos sancionatórios abrangidos pela previsão desta norma fundamental, nos termos da qual «é inconstitucional a aplicação de qualquer tipo de sanção, contra-ordenacional, administrativa, fiscal, laboral, disciplinar ou qualquer outra, sem que o arguido seja previamente ouvido e possa defender-se das imputações que lhe são feitas» [como assinalam Germano Marques da Silva e Henrique Salinas, na anotação ao artigo 32.º - cf. Constituição Portuguesa Anotada, t. i, 2.ª ed., Jorge Miranda e Rui Medeiros (orgs.), cit., p. 740]. Nos termos do actual artigo 356.º, n.º 1, a instrução do processo disciplinar apresenta-se com um carácter facultativo, não estando a respectiva dispensa por parte do empregador sujeita a fundamentação. Deste modo, a única intervenção do trabalhador que apresenta um carácter legal obrigatório é a resposta à nota de culpa. Esta resposta consubstancia o exercício do direito de audiência previsto no n.º 10 do artigo 32.º mas já não consome o direito de defesa. Verifica-se assim a possibilidade de existirem processos sancionatórios que, ao arrepio do referido preceito constitucional, não asseguram os direitos de defesa dos arguidos.
A Constituição não distingue a que processos que culminam numa sanção é aplicável ou não o aludido normativo, nomeadamente se é só aplicável aos processos levantados por entidades públicas se também os levantados por entidades privadas. Não distinguindo a Constituição, não o pode fazer o legislador ordinário.
E o certo é que estamos em sede de imputação de um facto censurável a um trabalhador, e que, face a esse comportamento culposo é o próprio legislador, atenta a relevância do instituto da «justa causa» no despedimento (artigo 53.º da Constituição) que cria um procedimento com vista à criação de uma sanção.
Com efeito, estando em causa normas em matéria de «disciplina interna» de uma empresa, e sendo inquestionável a natureza sancionatória da consequência a aplicar ao comportamento do trabalhador, não se vê como não concluir pela relevância do procedimento sancionatório, para os efeitos do disposto no artigo 32.º, n.º 10, da Constituição da República.
E assim sendo, é inelutável o surgimento dos direitos de audiência e defesa como regra inerente à ordem jurídica de um Estado de direito (Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, cit., p. 526).
E não é, seguramente, o facto de o trabalhador poder impugnar o despedimento, relegando para a fase jurisdicional a apresentação das suas provas, que minora a consequência de na resposta à nota de culpa não poder, de imediato, suscitar a audição de testemunhas. Aliás, a preterição eventual dos direitos de defesa do trabalhador para o momento jurisdicional pode até colocar definitivamente em causa o efeito útil de tais direitos. Imagine-se uma situação em que a urgência de uma inquirição se apresenta como absolutamente indispensável à valoração da bondade da decisão do despedimento de um trabalhador e não admitir tal diligência probatória seria uma violação flagrante ao direito de defesa do mesmo trabalhador.
A exigência de fundamentação da decisão de despedimento não preenche o vazio de não ter sido, em tempo, exercido o direito de defesa, já que é o trabalhador que sabe a forma como deve empreender a sua defesa, e, sobretudo, o modo e a época de a exercitar.
Além disso, da garantia à segurança no emprego, prevista no artigo 53.º da Constituição, decorre que o despedimento deve satisfazer exigências procedimentais. Como decidiu o Tribunal no Acórdão n.º 423/99, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 4 de Dezembro de 1999, «[a] garantia da segurança no emprego e a proibição dos despedimentos sem justa causa postulam, por entre o mais, por um lado, que a relação de trabalho se deva ver protegida contra a suspensão da prestação de trabalho e, por outro, que o procedimento disciplinar conducente ao despedimento seja um due process, devendo assegurar as garantias de defesa do trabalhador».
Nestes termos, a solução adoptada pelo artigo 356.º, n.º 1, do Código do Trabalho é violadora do artigo 32.º, n.º 10, conjugado com o artigo 53.º, da Constituição e deve ter-se por inconstitucional.
10 - Oposição à reintegração. - O requerente contesta a constitucionalidade do artigo 392.º que permite que «em caso de microempresa ou de trabalhador que ocupe cargo de administração ou de direcção», o empregador possa «requerer ao tribunal que exclua a reintegração, com fundamento em factos e circunstâncias que tornem o regresso do trabalhador gravemente prejudicial e perturbador do funcionamento da empresa».
Nos termos do artigo 389.º do Código do Trabalho, a declaração judicial da ilicitude do despedimento implica a condenação do empregador a: i) indemnizar o trabalhador por todos os danos, patrimoniais e não patrimoniais, causados, incluindo-se aí o pagamento das retribuições que o trabalhador deixou de auferir desde a data do despedimento até ao trânsito em julgado da decisão do tribunal, e ii) reintegrar o trabalhador no seu posto de trabalho sem prejuízo da sua categoria e antiguidade.
A reintegração é pois, nos actuais termos legais, uma normal consequência da declaração judicial da ilicitude do despedimento.
Pode, no entanto, o próprio trabalhador não a desejar, preferindo, por razões que não precisa de apresentar, optar por uma indemnização em substituição da reintegração (artigo 391.º do Código do Trabalho). E pode também, como se viu, o empregador, nos termos do artigo 392.º, pedir ao tribunal que a reintegração seja substituída por indemnização quando esteja em causa trabalhador de microempresa ou trabalhador que ocupe cargo de administração ou de direcção e haja factos e circunstâncias que tornem o regresso do trabalhador gravemente prejudicial e perturbador do funcionamento da empresa. É relativamente a esta última hipótese que se pede a declaração de inconstitucionalidade.
Deve começar por se referir que o Tribunal Constitucional tem sido do entendimento de que a tutela reintegratória constitui um corolário da proibição constitucional do despedimento sem justa causa (artigo 53.º da Constituição).
É disso exemplo o Acórdão n.º 107/88, publicado no Diário da República, 1.ª série, de 21 de Junho de 1988, onde se discutia a constitucionalidade de uma norma (constante de projecto de lei de autorização legislativa) que previa, em termos gerais e sem quaisquer restrições, a «admissão de substituição judicial da reintegração do trabalhador, em caso de despedimento ilícito, por indemnização quando, após pedido da entidade empregadora, o tribunal crie a convicção da impossibilidade do reatamento de normais relações de trabalho».
No Acórdão n.º 306/2003, já citado (n.º 17), quando se procedeu à apreciação do artigo 438.º, n.º 2, do Código do Trabalho de 2003 - que permitia, tal como a norma agora em apreciação, a substituição da reintegração por indemnização quando estejam verificados determinados pressupostos (positivos e negativos) relativamente delimitados - foi reiterada a mesma ideia:
«A declaração judicial da ilicitude do despedimento, determinando a invalidade desse facto extintivo da relação contratual laboral, implica que juridicamente tudo se deve passar como se essa relação nunca tivesse sido interrompida, pelo que a 'reintegração' surge como o efeito normal de tal declaração.»
A questão está, porém, em saber se não serão possíveis restrições ao direito à reintegração devidamente fundadas.
Como explica Tiziano Treu, ao comparar os direitos português e italiano, no Código do Trabalho «a rigidez [da solução reintegrativa] é atenuada pela faculdade de oposição à reintegração do trabalhador que se concede às pequenas empresas e às entidades patronais que tenham despedido pessoal dirigente, desde que provem que a reintegração viria causar efeitos negativos na actividade da empresa» («Despedimentos em Itália. Regime jurídico vigente. Perspectivas de reforma», in Código do Trabalho. Alguns Aspectos Cruciais, Cascais, Principia, 2003, p. 36.).
Deve anotar-se, desde já, que a ideia da «obrigatoriedade plena de reintegração dos trabalhadores ilicitamente despedidos só existe em Portugal, pois mesmo nos países latinos, como Espanha e França, o empregador pode opor-se à reintegração, e, em Itália, não há direito de reintegração nas pequenas empresas e relativamente a dirigentes» [Pedro Martinez, anotação ao artigo 392.º, in Código do Trabalho, Pedro Martinez et al. (orgs.), cit., p. 871], vigorando pois neste último país um sistema semelhante ao português.
É também importante dizer-se que, no quadro traçado pelo actual Código do Trabalho, para a generalidade das empresas (pequenas, médias e grandes) e para a generalidade dos trabalhadores (todos os que não tenham cargos de direcção ou administração) vale a solução geral da reintegração do trabalhador na empresa.
Além disso, a oposição à reintegração só se pode fazer «com fundamento em factos e circunstâncias que tornem o regresso do trabalhador gravemente prejudicial e perturbador do funcionamento da empresa», terá de ser apreciada pelo tribunal e não é admitida quando o fundamento de oposição à reintegração for culposamente criado pelo empregador.
Estamos, portanto, a apreciar um preceito legislativo com rigorosos pressupostos e com um âmbito delimitado a um tipo específico de empresas e a um tipo específico de trabalhadores e que «só é permitido através de uma decisão judicial que considere existirem razões justificativas para substituir a reintegração por uma indemnização de valor reforçado» (Pedro Furtado Martins, «Consequências do despedimento ilícito», in Código do Trabalho. Alguns Aspectos Cruciais, cit., p. 61), mais concretamente, os valores dentro dos quais a indemnização se estabelece são o dobro dos valores normais. E de resto, nos termos do n.º 2 do mesmo artigo, a solução não vale nos casos em que a ilicitude do despedimento se fundar em motivo político, ideológico, étnico ou religioso.
O artigo 100.º, n.º 1, alínea a), do Código do Trabalho define a «microempresa» como uma empresa que empregue menos de 10 trabalhadores. Ora estas empresas têm uma especificidade laboral e sócio-económica.
Resulta do Acórdão n.º 306/2003 (n.º 18), inserido na linha jurisprudencial dos anteriores Acórdãos n.os 64/91 e 581/95, já citados, que as pequenas empresas e, por maioria de razão, as microempresas têm especificidades que justificam uma diferente forma de abordagem do problema da relação entre a laboração da empresa e a segurança no emprego, que tenha em conta a necessidade de uma mais estreita articulação no trabalho dentro de uma pequena ou microempresa do que numa grande empresa.
A questão suscita ainda menos dúvidas a respeito dos cargos de administração e direcção cujas especificidades são consideradas no Código do Trabalho, por exemplo para efeitos de isenção de horário, de duração do descanso semanal obrigatório, de despedimento por inadaptação ou de aviso prévio em caso de denúncia do contrato por parte do trabalhador (v. Maria Irene Gomes, «Comissão de serviço», in A Reforma do Código do Trabalho, cit., p. 373).
No caso da oposição à reintegração justifica-se um regime diferenciado para estes trabalhadores. Na verdade, os cargos de administração ou direcção têm, por definição, maiores implicações ao nível do funcionamento e da laboração da empresa do que os restantes postos de trabalho. Além disso, nestes casos deve ter-se em conta «a relação de confiança entre as partes que subjaz a estes vínculos, por força das funções exercidas» e, em geral, «a menor necessidade de tutela destes trabalhadores, dada a sua função dirigente» (Maria do Rosário Palma Ramalho, Direito do Trabalho, Parte II, Situações Laborais Individuais, Coimbra, Almedina, 2010, p. 869, e Nuno Abranches Pinto, Instituto Disciplinar Laboral, cit., p. 191).
Na oposição à reintegração pondera-se o valor da empresa e dos outros postos de trabalho que ela sustenta e entende-se que a tutela reintegratória, apesar de ser um corolário normal da segurança no emprego, deverá ceder perante a tutela ressarcitória, que melhor assegura o justo equilíbrio entre os bens constitucionalmente protegidos.
No Acórdão n.º 306/2003 disse o Tribunal:
«O Tribunal Constitucional entende [...] que a norma em análise, ao prever, em certos termos, a oposição, pelo empregador, à reintegração, por o regresso do trabalhador de microempresa, ou que ocupe cargo de administração ou de direcção, ser 'gravemente prejudicial e perturbador para a prossecução da actividade empresarial' não é inconstitucional num sistema que, como o nosso, admite também justas causas objectivas de despedimento (assim, os citados Acórdãos n.os 107/88, 64/91 e 581/95).»
É verdade que tal argumento tem oposição doutrinal, nomeadamente a sustentada por Júlio Gomes e Raquel Carvalho [«Código de trabalho - a (in)constitucionalidade das normas relativas à repetição do procedimento disciplinar e à reintegração», in Questões Laborais, n.º 22, 2003, p. 218] que dizem:
«É certo que a referência constitucional à justa causa não se esgota na justa causa disciplinar: também têm justa causa o despedimento colectivo, o despedimento por inadaptação ou a extinção individual dos postos de trabalho, por razões tecnológicas, conjunturais ou estruturais que sejam adequadamente motivados. Trata-se aqui, no entanto, de justas causas objectivas - basicamente razões económicas ou de mercado - anteriores à cessação do contrato e que explicam a decisão do empregador. [No contexto do despedimento ilícito], a faculdade de oposição do empregador não se baseia em qualquer justa causa digna desse nome, nem em sentido subjectivo (disciplinar), nem em sentido objectivo. Não há justa causa, no sentido disciplinar, ou ela não foi validamente apurada, e é por isso mesmo que o despedimento é ilícito. Justa causa objectiva - em sentido tecnológico, económico ou estrutural - também não existe. Tudo o que o empregador pode invocar são as naturais dificuldades inerentes ao próprio conceito de reintegração, sobretudo naqueles meios empresariais em que suportar a reintegração é ainda tido como uma 'perda de face' ou de prestígio, perante os restantes trabalhadores. Convém, contudo ter presente que quem praticou um facto ilícito - um despedimento ilícito - foi a entidade patronal e não o trabalhador.»
Mas a posição do Tribunal mantém-se. O Tribunal não pretendeu afirmar que nos casos de substituição da reintegração por indemnização a pedido do empregador, se esteja perante uma justa causa objectiva de despedimento. Pretendeu, sim, afirmar que a restrição do direito à reintegração se afigura tanto mais razoável num sistema em que se aceitam situações de justa causa objectiva de despedimento, isto é, situações em que o despedimento é ditado apenas por uma ponderação entre o direito ao trabalho de um trabalhador individual e o equilíbrio económico da empresa de que depende, em última análise, o direito ao trabalho de todos os restantes trabalhadores.
Acresce que o trabalhador está protegido em face das situações de tu quoque. Na verdade, a oposição à reintegração está excluída quando «o fundamento da oposição à reintegração for culposamente criado pelo empregador» (artigo 392.º, n.º 2, in fine).
Contestam, todavia, Júlio Gomes e Raquel Carvalho (ob. cit., pp. 218 e 219) a efectividade prática desta regra, dizendo:
«Acresce que não basta a ressalva [de que] o direito à oposição não existe, quando 'o fundamento destacado justificativo da oposição à reintegração foi culposamente criado pelo empregador'. Refira-se, aliás, que onde haverá culpa do empregador, será frequentemente em ter procedido a um despedimento, com alguma leviandade ou sem observância das regras formais, cuja violação acarreta a nulidade do procedimento; não vislumbramos que haja culpa do empregador, em regra, em o regresso do trabalhador ser agora gravemente prejudicial e perturbador para a prossecução da actividade empresarial. O prejuízo grave e a perturbação causados pelo regresso do trabalhador podem depender de múltiplas decisões do empregador, tomadas sem culpa deste, mas que não se vislumbra muito bem por que é que hão-de onerar o trabalhador inocente, em todo este processo: o empregador pode ter já contratado outras pessoas, ocupando aquele posto de trabalho, alterado ou redimensionado a sua actividade. Permitir-lhe invocar estes comportamentos para se opor à reintegração é, ainda, permitir-lhe retirar vantagens da prática de um facto ilícito. Mas, e sobretudo, é confundir a justa causa com a mera dificuldade subjectiva de reintegração [...]»
Todavia esta posição não colhe. Em primeiro lugar, não é certo, como afirmam os autores, que «o prejuízo grave e a perturbação causados pelo regresso do trabalhador podem depender de múltiplas decisões do empregador». Na verdade, a oposição à reintegração está legalmente excluída quando «o fundamento da oposição à reintegração for culposamente criado pelo empregador» e quem decide quando tal sucede não é o empregador, é, sim, um tribunal independente e imparcial (cf. artigo 392.º, n.º 2, in fine).
Em segundo lugar, «os factos e circunstâncias que tornem o regresso do trabalhador gravemente prejudicial e perturbador do funcionamento da empresa» têm de ser aferidos, na acção judicial, pelo tribunal, incumbindo aliás ao empregador o ónus de provar os fundamentos que alega (Nuno Abranches Pinto, Instituto Disciplinar Laboral, cit., p. 193). Além disso, esses fundamentos têm de ser aferidos em termos objectivos ou intersubjectivamente válidos; nunca poderão constituir apenas uma mera recusa do empregador em «reconhecer o seu erro» ou um capricho emocional de, perante a falta de fundamento do despedimento judicialmente declarada, fazer prevalecer, afinal, a sua vontade. Também a objectividade da apreciação destes factos é garantida por um tribunal independente e imparcial.
E não procede o argumento de que «indagar deste tipo de prejuízo forçará o tribunal a averiguações em áreas que, tradicionalmente, se consideram pertencer exclusivamente ao empresário e para as quais, até, um juiz não se acha, normalmente, apetrechado do ponto de vista técnico» (Júlio Gomes, «Anotação ao Acórdão n.º 306/2003», in Jurisprudência Constitucional, n.º 1, Janeiro-Março de 2004, p. 35). Desde logo, este argumento poderia levar à conclusão, que o autor não pretende, de que deveria então ser o empresário e não um juiz a ajuizar se o regresso do trabalhador é ou não gravemente prejudicial e perturbador do funcionamento da empresa. Depois, tem que se presumir que os tribunais, enquanto instituições, têm sempre capacidade para avaliar os factos que a lei considera relevantes (nem que para tal tenham de socorrer-se de peritos).
Por fim, a solução do artigo 392.º - preceito excepcional e justificado pela especificidade das empresas (microempresas) ou dos trabalhadores (cargos de administração ou direcção) - obedece a uma lógica de proporcionalidade (ou de ponderação das consequências económico-sociais) que os autores desconsideram. Eles pretendem uma solução de não ponderação dos efeitos e de intransigente reafirmação contrafactual do sentido de validade posto em causa pelo despedimento ilícito. Entendem, numa palavra, que se deve fazer justiça independentemente das consequências. Deverá, contudo, dizer-se que a ponderação das consequências é, ainda, uma exigência de justiça, pelo menos na medida em que resulte da força normativa do princípio da proporcionalidade.
É nesta linha que o Código do Trabalho admite que, dentro de determinados limites muito estritos, se proceda a uma ponderação dos efeitos reais do regresso do trabalhador à empresa conjugada com um princípio de compensação ressarcitória, prevendo a lei uma indemnização.
Essa indemnização tem valor acrescido em relação à indemnização recebida na generalidade dos casos de despedimento ilícito (v. o artigo 392.º, n.º 3). Essa ponderação dos efeitos económico-sociais, que o Código permite, corresponde, afinal, a uma restrição dos efeitos jurídicos consequentes à declaração de invalidade de um acto.
É certo, no entanto, que, apesar de a oposição à reintegração não se poder considerar inconstitucional, ela constitui uma restrição ao princípio constitucional da segurança no emprego e da proibição dos despedimentos sem justa causa (artigo 53.º). E, por isso, o tribunal que venha a apreciar a eventual verificação dos pressupostos da oposição à reintegração deverá, nessa tarefa, ser «especialmente exigente», e uma «tal apreciação deve ser feita nos moldes da maior exigência» precisamente em homenagem ao direito fundamental objecto de restrição: o direito à segurança no emprego (v. Maria do Rosário Palma Ramalho, Direito do Trabalho, Parte II..., cit., p. 869). Essa especial exigência exprimir-se-á: i) na objectividade da apreciação dos diferentes «factos e circunstâncias» que fundamentam o juízo de que o regresso do trabalhador à específica empresa onde trabalhava será «gravemente prejudicial e perturbador do funcionamento dessa empresa» (v. artigo 392.º, n.º 1), e ii) no rigor que é devido na averiguação de uma eventual culpa do empregador na criação da situação que constitui o fundamento da oposição à reintegração (artigo 392.º, n.º 2, in fine).
Em conclusão, podemos dizer que o regime do artigo 392.º apenas se aplica nos casos em que haja factos e circunstâncias que tornem o regresso do trabalhador gravemente prejudicial e perturbador do funcionamento da empresa; o preceito presume iuris et de iure que tal só é susceptível de suceder em caso de microempresa ou de trabalhador que ocupe cargo de administração ou de direcção. A verificação de tais pressupostos não é feita pelo empregador, tendo, sim, de ser objectivamente aferida pelo tribunal que caso os considere justificados deverá substituir a reintegração por uma indemnização que poderá ter o dobro do valor do que aquela a que o trabalhador teria direito em condições normais.
A solução do artigo 392.º, constituindo uma restrição ao direito à segurança no trabalho, consagrado no artigo 53.º da Constituição, afigura-se uma restrição justificada, nos termos do artigo 18.º, n.º 2, dessa mesma Constituição, em nome de outros bens ou interesses constitucionalmente relevantes.
11 - Escolha de convenção aplicável. - O requerente contesta a constitucionalidade do artigo 497.º do Código do Trabalho, nos termos do qual, «caso sejam aplicáveis, no âmbito de uma empresa, uma ou mais convenções colectivas ou decisões arbitrais, o trabalhador que não seja filiado em qualquer associação sindical pode escolher qual daqueles instrumentos lhe passa a ser aplicável».
Invoca a liberdade sindical na sua dimensão positiva e negativa e o direito da contratação colectiva.
A ideia do requerente é a de que uma tal norma permite a quem não tem filiação sindical tirar proveito da actividade sindical, promovendo, assim, a não filiação sindical com a consequente debilitação dos sindicatos e da sua posição negocial na contratação colectiva.
Se a contratação colectiva é resultado da actividade sindical (artigo 56.º, n.º 4) e se todos são livres de se inscrever ou não nos sindicatos (artigo 55.º da Constituição), apenas deveriam beneficiar do produto de tal actividade sindical as pessoas que estejam neles inscritas ou filiadas. As pessoas poderiam legitimamente optar pela não filiação, mas não deveriam, nesse caso, poder tirar proveito da actividade sindical.
A respeito da liberdade sindical, esclarece Rui Medeiros, citando jurisprudência do Tribunal Constitucional, que a «liberdade sindical tem uma dimensão individual tanto positiva como negativa». Na sua vertente positiva, ela «consubstancia-se, antes de mais numa liberdade de inscrição no sindicato [artigo 55.º, n.º 2, alínea b), primeira parte]. [...] Na sua dimensão negativa, 'garante o direito de não inscrição e o direito de abandonar o sindicato a todo o tempo no caso de tal inscrição existir' (Acórdão n.º 445/93)» [anotação ao artigo 55.º, Constituição Portuguesa Anotada, Jorge Miranda e Rui Medeiros (orgs.), cit., p. 1086].
O trabalhador tem pois a liberdade de se inscrever ou não na associação sindical. Não o podem obrigar a inscrever-se.
É, contudo, legítimo questionar se os trabalhadores não sindicalizados não deverão ser excluídos dos benefícios da actividade sindical e, nomeadamente, dos benefícios eventualmente decorrentes da contratação colectiva. De facto, nos termos do artigo 56.º, n.º 3, da Constituição, «compete às associações sindicais exercer o direito de contratação colectiva, o qual é garantido nos termos da lei». Há, pois, uma incindível ligação entre contratação colectiva e associações sindicais.
Gomes Canotilho e Vital Moreira (Constituição da República Portuguesa Anotada, cit., p. 748) afirmam a este propósito: «Sendo a actividade sindical e a contratação colectiva suportada somente pelos trabalhadores sindicalizados, merece protecção constitucional o seu interesse em reservar para si as regalias que não sejam obrigatoriamente uniformes, sob pena de premiar o fenómeno do free rider, ou seja, os trabalhadores que tiram proveito da acção colectiva, sem nela se envolverem e sem suportarem os respectivos encargos.»
O artigo 497.º permite, todavia, ao trabalhador que não seja filiado em qualquer associação sindical escolher os instrumentos de regulamentação colectiva que lhe serão aplicáveis, podendo inclusivamente escolher uma convenção colectiva negociada por um sindicato no qual não está filiado.
Todavia, devemos começar por relembrar que as convenções colectivas de trabalho são muitas vezes aplicáveis, por força de portarias de extensão, a trabalhadores não filiados nos sindicatos que as celebraram. E ninguém defende a inconstitucionalidade de tais portarias de extensão pelo facto de permitirem a trabalhadores não filiados nos sindicatos terem os mesmos direitos que os trabalhadores filiados em sindicato que tenha celebrado convenção colectiva.
O requerente contesta, ainda assim, a constitucionalidade da solução legal do artigo 497.º do Código do Trabalho, por entender que desincentiva a inscrição sindical, enfraquecendo as associações sindicais, ao permitir que alguém tenha os benefícios da actividade sindical sem estar inscrito num sindicato. Ora, se não há dúvida de que, em geral, «as regras legais podem ter um papel de primordial importância em fomentar ou, ao invés, em desincentivar e enfraquecer a filiação sindical e o movimento sindical no seu todo» (Júlio Gomes, «O Código do Trabalho de 2009 e a promoção da desfiliação sindical», in Novos Estudos de Direito do Trabalho, Coimbra, Coimbra Editora, 2010, p. 165, n. 6), não é menos certo que o artigo 497.º do Código do Trabalho não promove a inscrição dos trabalhadores nos sindicatos, visto que esta não lhes trará benefício adicional em termos de contratação colectiva.
Seria, então, possível ver nesta solução uma desvalorização das associações sindicais a quem compete o direito de contratação colectiva.
Deve, todavia, dar-se nota de que a Constituição salvaguarda a liberdade individual de inscrição sindical, desde logo enquanto liberdade negativa. Constituiria obviamente uma violação da Constituição obrigar as pessoas a inscreverem-se num determinado sindicato (artigo 55.º da Constituição).
Depois, deve ter-se em consideração o princípio da igualdade, no que respeita às condições gerais de trabalho, que parcialmente aflora no artigo 59.º da Constituição: sem prejuízo das diferenças resultantes dos contratos individuais de trabalho, os trabalhadores de unidades ou sectores de produção semelhantes devem, tendencialmente, estar sujeitos ou beneficiar de condições gerais de trabalho semelhantes. É este o fundamento das chamadas portarias de extensão e é isto que, em conjugação com a liberdade sindical negativa (a liberdade de não inscrição num sindicato), legitima que, nos termos do artigo 497.º do Código do Trabalho, o trabalhador não inscrito ou filiado possa aderir a uma convenção colectiva ou a uma decisão arbitral aplicável a outros trabalhadores da mesma unidade ou do mesmo sector de produção.
Por fim, resta dizer que o próprio Código do Trabalho tem um mecanismo que visa garantir que as associações sindicais se possam salvaguardar face à hipótese de um trabalhador não filiado num determinado sindicato vir a beneficiar de convenção colectiva celebrada por esse sindicato. É o que está previsto no artigo 492.º, n.º 4: «A convenção colectiva pode prever que o trabalhador, para efeito da escolha prevista no artigo 497.º, pague um montante nela estabelecido às associações sindicais envolvidas, a título de comparticipação nos encargos da negociação.»
Ora esta cláusula permite que as associações sindicais se salvaguardem em face do aproveitamento da sua actividade por parte de pessoas que não se associam ao sindicato. Na verdade, ela permite tornar a solução da filiação sindical, que automaticamente aplica a convenção colectiva, mais vantajosa do que o pagamento de uma verba específica para beneficiar dessa mesma convenção colectiva. Tanto mais que o pagamento de tal verba é, já por si, uma forma de envolvimento com a associação sindical.
Consegue-se, assim, uma concordância prática entre a liberdade individual de inscrição ou não inscrição nos sindicatos conjugada com o princípio da igualdade (que postula iguais condições gerais de trabalho, para trabalhadores em igualdade de situações, dentro das mesmas unidades ou sectores de produção), por um lado, e o direito das associações sindicais a quem compete a contratação colectiva, por outro.
Assim, é de concluir que, no contexto normativo em que se insere, o artigo 497.º do Código do Trabalho não viola os direitos das associações sindicais (artigo 56.º, n.os 1 e 2) e, em especial, o direito da contratação colectiva que exclusivamente lhes compete (artigo 56.º, n.º 3, da Constituição).
12 - Sobrevigência e caducidade de convenção colectiva. - Nos termos do artigo 500.º, n.º 1, do Código do Trabalho, «qualquer das partes pode denunciar a convenção colectiva mediante comunicação escrita dirigida à outra parte, acompanhada de proposta negocial global». O artigo 501.º, por seu turno, prevê que, no caso de denúncia, a convenção se mantenha em regime de sobrevigência durante o período em que decorra a negociação, incluindo conciliação, mediação ou arbitragem voluntária, ou no mínimo 18 meses (n.º 3). Mas se a negociação tiver terminado sem acordo a convenção colectiva acaba por caducar (n.º 4).
A questão que essencialmente se coloca é a da conformidade com a Constituição do regime de caducidade das convenções colectivas de trabalho que vigora quando a convenção não regula os termos da sua renovação e quando haja cláusula delas constante que faça depender a cessação da vigência desta substituição por outro instrumento de regulamentação colectiva de trabalho (artigo 501.º, n.os 1 e 2, do Código do Trabalho e, no que respeita às convenções vigentes antes da entrada em vigor do Código, o regime especial do artigo 10.º, n.os 1 e 2, da Lei n.º 7/2009).
O requerente entende que tal regime - ao fazer caducar as convenções colectivas de trabalho sem simultaneamente obrigar as entidades patronais a negociarem novas convenções que as substituam - atinge a liberdade sindical (artigo 55.º) e viola o direito à contratação colectiva (artigo 56.º, n.º 3, da Constituição).
Há que, desde já, proceder a um enquadramento legislativo da problemática em questão:
O artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 519-C1/79, de 29 de Dezembro (Lei dos Instrumentos de Regulamentação Colectiva), estipulava a regra da continuidade das convenções colectivas. Estas vigoravam pelo prazo que delas constasse expressamente (n.º 1), prevendo-se ainda a manutenção da respectiva vigência até serem substituídas por outro instrumento de regulamentação colectiva (n.º 2). A cessação da vigência de um IRC dependia, portanto, do surgimento de novo instrumento substitutivo.
O Código do Trabalho de 2003 veio alterar esta orientação, a qual é confirmada e aprofundada pela revisão de 2009. Com efeito, o artigo 10.º da Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, visa fazer cessar o regime de vigência contínua das convenções colectivas celebradas anteriormente que continham cláusula que reproduzia o conteúdo do referido artigo 11.º da Lei dos Instrumentos de Regulamentação Colectiva.
O artigo 557.º do Código do Trabalho de 2003 - inserido na secção vi («Âmbito temporal») do capítulo ii («Convenção colectiva») do subtítulo ii («Instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho») do título iii («Direito colectivo») do livro l («Parte geral») - dispunha o seguinte:
«Sobrevigência
1 - Decorrido o prazo de vigência previsto no n.º 1 do artigo anterior, a convenção colectiva renova-se nos termos nela previstos.
2 - No caso de a convenção colectiva não regular a matéria prevista no número anterior, aplica-se o seguinte regime:
a) A convenção renova-se sucessivamente por períodos de um ano;
b) Havendo denúncia, a convenção colectiva renova-se por um período de um ano e, estando as partes em negociação, por novo período de um ano;
c) Decorridos os prazos previstos nas alíneas anteriores, a convenção colectiva mantém-se em vigor, desde que se tenha iniciado a conciliação ou a mediação, até à conclusão do respectivo procedimento, não podendo a sua vigência durar mais de seis meses.
3 - No caso de se ter iniciado a arbitragem durante o período fixado no número anterior, a convenção colectiva mantém os seus efeitos até à entrada em vigor da decisão arbitral.
4 - Decorrida a sobrevigência prevista nos números anteriores, a convenção cessa os seus efeitos.»
Por outro lado, o artigo 13.º da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, que aprovou o Código do Trabalho de 2003, admitia a denúncia com efeitos imediatos das convenções colectivas de trabalho, desde que as mesmas tivessem vigorado, pelo menos, um ano após a sua última alteração ou entrada em vigor. Este preceito foi, no entanto, revogado pela Lei n.º 7/2009, que aprovou o Código do Trabalho vigente.
O artigo 557.º do Código de Trabalho de 2003 foi posteriormente alterado pela Lei n.º 9/2006, de 20 de Março, a qual introduziu a seguinte redacção:
«Artigo 557.º
[...]
1 - ...
2 - ...
a) ...
b) ...
c) Decorridos os prazos previstos nas alíneas anteriores, a convenção colectiva mantém-se em vigor, desde que se tenha iniciado a conciliação e, ou, a mediação e a arbitragem voluntária, até à conclusão do respectivo procedimento, não podendo este prazo prolongar-se por mais de seis meses.
3 - Decorridos os prazos previstos nas alíneas b) e c) do número anterior, a convenção colectiva mantém-se em vigor até 60 dias após a comunicação ao ministério responsável pela área laboral e à outra parte, por qualquer das partes, sobre a verificação cumulativa dos seguintes requisitos:
a) Que a conciliação e, ou, a mediação se frustraram;
b) Que, tendo sido proposta a realização de arbitragem voluntária, não foi possível obter decisão arbitral.
4 - Na ausência de acordo anterior quanto aos efeitos da convenção colectiva em caso de caducidade, o ministro responsável pela área laboral, dentro do prazo referido no número anterior, notifica as partes para que, querendo, estipulem esses efeitos no prazo de 15 dias.
5 - Esgotado o prazo referido no n.º 3 e não tendo sido determinada a realização de arbitragem obrigatória, a convenção colectiva caduca, mantendo-se, até à entrada em vigor de uma outra convenção colectiva de trabalho ou decisão arbitral, os efeitos definidos por acordo das partes ou, na sua falta, os já produzidos pela mesma convenção nos contratos individuais de trabalho no que respeita a:
a) Retribuição do trabalhador;
b) Categoria do trabalhador e respectiva definição;
c) Duração do tempo de trabalho.
6 - Para além dos efeitos referidos no número anterior, o trabalhador beneficiará dos demais direitos e garantias decorrentes da aplicação do presente Código.»
Finalmente, o Código do Trabalho de 2009 aprovou a seguinte redacção para o artigo 501.º:
«Sobrevigência e caducidade de convenção colectiva
1 - A cláusula de convenção que faça depender a cessação da vigência desta da substituição por outro instrumento de regulamentação colectiva de trabalho caduca decorridos cinco anos sobre a verificação de um dos seguintes factos:
a) Última publicação integral da convenção;
b) Denúncia da convenção;
c) Apresentação de proposta de revisão da convenção que inclua a revisão da referida cláusula.
2 - Após a caducidade da cláusula referida no número anterior, ou em caso de convenção que não regule a sua renovação, aplica-se o disposto nos números seguintes.
3 - Havendo denúncia, a convenção mantém-se em regime de sobrevigência durante o período em que decorra a negociação, incluindo conciliação, mediação ou arbitragem voluntária, ou no mínimo, durante 18 meses.
4 - Decorrido o período referido no número anterior, a convenção mantém-se em vigor durante 60 dias após qualquer das partes comunicar ao ministério responsável pela área laboral e à outra parte que o processo de negociação terminou sem acordo, após o que caduca.
5 - Na ausência de acordo anterior sobre os efeitos decorrentes da convenção em caso de caducidade, o ministro responsável pela área laboral notifica as partes, dentro do prazo referido no número anterior, para que, querendo, acordem esses efeitos, no prazo de 15 dias.
6 - Após a caducidade e até à entrada em vigor de outra convenção ou decisão arbitral, mantêm-se os efeitos acordados pelas partes ou, na sua falta, os já produzidos pela convenção nos contratos de trabalho no que respeita a retribuição do trabalhador, categoria e respectiva definição, duração do tempo de trabalho e regimes de protecção social cujos benefícios sejam substitutivos dos assegurados pelo regime geral de segurança social ou com protocolo de substituição do Serviço Nacional de Saúde.
7 - Além dos efeitos referidos no número anterior, o trabalhador beneficia dos demais direitos e garantias decorrentes da legislação do trabalho.
8 - As partes podem acordar, durante o período de sobrevigência, a prorrogação da vigência da convenção por um período determinado, ficando o acordo sujeito a depósito e publicação.
9 - O acordo sobre os efeitos decorrentes da convenção em caso de caducidade está sujeito a depósito e publicação.»
O regime de possível caducidade estabelecido pelo Código do Trabalho de 2003 apresentava assim diferentes condicionantes temporais. Assim, em caso de denúncia, verificava-se a renovação do instrumento colectivo por um ano, ao qual acresceria outro ano em caso de negociação. Se o processo de negociação não se encontrasse concluído no termo do segundo ano, e estivesse em curso conciliação ou mediação, a vigência era prorrogada por mais seis meses. Em caso de processo de arbitragem, a vigência seria então prorrogada até à entrada em vigor da respectiva decisão. Por outro lado, a denúncia deveria ser feita com a antecedência mínima de três meses relativamente ao termo do prazo (artigo 558.º, n.º 2).
Segundo o actual regime, a vigência das convenções colectivas, em caso de denúncia, mantém-se pelo tempo que dure o processo negocial que eventualmente tenha sido encetado ou, no mínimo, durante 18 meses, caso não exista negociação (artigo 501.º, n.º 3). Se não vier a ser celebrada nova convenção, a estes 18 meses acrescem ainda 60 dias, findos os quais ocorrerá a caducidade do instrumento em causa (artigo 501.º, n.º 4). Esta vigência adicional de 20 meses apresenta-se, assim, como a «sobrevigência mínima que o Código do Trabalho oferece às convenções colectivas» (v. Monteiro Fernandes, Direito do Trabalho, 14.ª ed., cit., pp. 850-851). Em caso de negociações que culminem em nova convenção, a sobrevigência da anterior mantém-se até à entrada em vigor desta.
O regime instituído pelo Código do Trabalho de 2009 tem suscitado dúvidas de constitucionalidade na doutrina. Assim, por exemplo, Monteiro Fernandes diz, referindo-se à disposição homóloga da anterior versão do Código do Trabalho relativa à caducidade e sobrevigência da CCT: «É certo que a lei ordinária é competente para definir as regras de legitimidade e eficácia das convenções (artigo 56.º, n.º 4, da CRP). Mas um dos elementos do 'conteúdo essencial' do direito de contratação colectiva (salvaguardado pelo artigo 18.º da Constituição da República Portuguesa) consiste no direito de dispor de regulamentação colectiva convencional das relações de trabalho em qualquer âmbito - no direito de ter essas relações reguladas por regime autónomo. Esse direito pode ser nega pelo 'vazio contratual' que este artigo possibilita a partir de uma convenção vigente» [«Notas sobre o controlo de constitucionalida do Código do Trabalho», in Questões Laborais, n.º 22, Código do Trabalho - questões de (in)constitucionalidade, ano x, 2003, p. 243]
E a verdade é que o regime de «sobrevigência ou ultra-actividade potencialmente limitada» que o Código estabelece assenta no seguinte pressuposto: «é preciso dar prioridade à renovação periódica dos regimes convencionais, atribuindo-lhes uma vigência limitada, ainda que à custa de alguma eventual descontinuidade (por não surgir, no tempo considerado conveniente, convenção substitutiva)» - v. Monteiro Fernandes, Direito do Trabalho, cit., p. 848.
O Código apenas obriga a parte que denuncia uma convenção colectiva a apresentar uma proposta de negociação (artigo 500.º, n.º 1, do Código do Trabalho). Essa proposta de negociação é pressuposto de validade da denúncia, mas não é mais do que uma proposta negocial. Não o é a efectiva celebração de uma nova convenção colectiva. E isto significa que, caso a negociação venha a falhar, não está excluído que a convenção denunciada caduque (findos os 20 meses que resultam da conjugação dos n.os 3 e 4 do artigo 501.º) sem que haja convenção substitutiva.
O regime de caducidade globalmente instituído pelo artigo 501.º do Código do Trabalho coloca os sindicatos na contingência de terem de negociar as novas convenções colectivas a partir da «estaca zero» e sob a ameaça de uma ausência de regulamentação.
Ora, como salientam Gomes Canotilho e Vital Moreira, mesmo na contratação colectiva é necessário atender à ideia de protecção do trabalhador, no pressuposto de que a igualdade entre os empresários empregadores e os trabalhadores subordinados nunca se atinge totalmente, sendo apenas compensada pela existência de associações sindicais. Dizem, na verdade: «Importa ainda observar que a Constituição não confere qualquer protecção às associações patronais (as quais, naturalmente, gozam da garantia geral do direito de associação, expressa no artigo 46.º). A protecção exclusiva das associações sindicais, inserida, aliás, no âmbito da garantia especial dos direitos dos trabalhadores, é expressão do favor laboratoris perfilhado pela Constituição; o qual, obviamente, não se compaginaria com um estatuto de igualdade dos chamados 'parceiros sociais'» (Constituição da República Portuguesa Anotada, 4.ª ed., cit., p. 731).
E não há dúvida de que a negociação de uma convenção colectiva é, para os sindicatos, mais fácil se se mantiver em vigor uma convenção anterior com direitos e regalias já assegurados. Pelo contrário, o facto de não existir qualquer outra convenção colectiva vigente no momento da negociação pode enfraquecer a posição negocial das associações sindicais, nomeadamente no caso (que por regra se verifica) de o «vazio contratual» e a aplicação supletiva da lei serem menos favoráveis ao trabalhador do que a convenção colectiva que caducou.
Além disso, pode questionar-se até que ponto será constitucionalmente legítimo atingir a posição dos trabalhadores individuais pela falta de convenção aplicável, com a necessária perda de direitos e regalias convencionalmente acordados.
Deve, a este respeito, começar por se dizer que, no Código do Trabalho, o regime da caducidade das convenções colectivas é mitigado, no que respeita à salvaguarda dos direitos dos trabalhadores individualmente considerados, pelo que estabelece o n.º 6 do artigo 501.º: «Após a caducidade e até à entrada em vigor de outra convenção ou decisão arbitral, mantêm-se os efeitos acordados pelas partes ou, na sua falta, os já produzidos pela convenção nos contratos de trabalho no que respeita a retribuição do trabalhador, categoria e respectiva definição, duração do tempo de trabalho e regimes de protecção social cujos benefícios sejam substitutivos dos assegurados pelo regime geral de segurança social ou com protocolo de substituição do Serviço Nacional de Saúde.»
Esta norma colmata, em parte, o «vazio contratual» de que fala a doutrina acima citada, salvaguardando a posição dos trabalhadores (adquirida à luz da convenção que caducou) no que respeita à retribuição, categoria, tempos de trabalho e benefícios sociais. Referindo-se às disposições análogas introduzidas pela Lei n.º 9/2006, que alterou o artigo 557.º do Código do Trabalho de 2003, diz Júlio Gomes: «parece-nos poder afirmar-se que a solução encontrada tem o mérito de garantir que uma parte significativa da eficácia da convenção se perde com a sua morte, mas uma outra, também ela relevante, pode perdurar» [v. «A manutenção dos efeitos já produzidos pela convenção colectiva caducada nos contratos individuais, após a Lei n.º 9/2006, de 20 de Março (ou o estranho tremeluzir das estrelas mortas)», in Questões Laborais, n.º 31, ano xv, 2008, p. 5].
O requerente entende, ainda assim, que o regime legal consubstancia uma «expropriação inconstitucional de direitos adquiridos», uma vez que o n.º 6 do artigo 501.º apenas salvaguarda determinados efeitos ao invés de manter na totalidade a vigência das convenções no que respeita «aos contratos individuais de trabalho anteriormente celebrados e às respectivas renovações».
É que o n.º 6 do artigo 501.º do Código do Trabalho só salvaguarda a posição dos trabalhadores no que respeita à retribuição, categoria, tempos de trabalho e benefícios sociais; e o artigo 10.º da Lei n.º 7/2009, que se refere às convenções colectivas anteriores à entrada em vigor do Código, não faz expressamente essa ressalva.
Ora poderá dizer-se que o direito à contratação colectiva (artigo 56.º, n.os 3 e 4, da Constituição) tem também uma dimensão subjectiva, implicando que os trabalhadores não devem poder ser privados dos direitos que lhes foram atribuídos por convenção colectiva sem a criação de uma alternativa por nova convenção colectiva.
Tudo o que se disse depõe no sentido do princípio de que «as convenções colectivas mantêm-se em vigor até serem substituídas por uma nova convenção colectiva ou por uma decisão arbitral». E implicaria a inconstitucionalidade do regime de caducidade estabelecido no artigo 501.º do Código do Trabalho e no artigo 10.º da Lei n.º 7/2009.
Estes argumentos parecem, contudo, não ser suficientes para fundamentar a inconstitucionalidade das normas impugnadas.
Deve dizer-se desde já que o artigo 56.º, n.º 4, da Constituição determina claramente o seguinte: «A lei estabelece as regras respeitantes à legitimidade para a celebração das convenções colectivas de trabalho, bem como à eficácia das respectivas normas.»
Deste modo, será, por princípio, à lei que compete definir a eficácia, incluindo a eficácia temporal, das normas das convenções colectivas.
Como refere Rui Medeiros, na linha do Acórdão n.º 94/92, «embora a Constituição atribua às associações sindicais a competência para o exercício do direito de contratação colectiva, ela 'devolve ao legislador a tarefa de delimitação do mesmo direito, aqui lhe reconhecendo uma ampla liberdade constitutiva'» [anotação ao artigo 56.º, Constituição Portuguesa Anotada, Jorge Miranda e Rui Medeiros (orgs.), cit., p. 1118]. A margem conformadora do legislador, no entanto, não é absoluta uma vez que deve obediência ao núcleo intangível do direito fundamental que é determinado por via interpretativa a partir dos próprios preceitos constitucionais. Com efeito, a determinação do direito não é feita a partir da lei sob pena de «inversão da hierarquia normativa e de esvaziamento da força jurídica do preceito constitucional» [Vieira de Andrade e Fernanda Maçãs, «Contratação colectiva e benefícios complementares de segurança social - O problema da (in)constitucionalidade material das normas limitadoras da contratação colectiva no domínio da segurança social», in Scientia Iuridica, n.º 290, Maio-Agosto de 1991, p. 33].
A determinação deste núcleo essencial por via interpretativa há-de resultar, como assinalam Vieira de Andrade e Fernanda Maçãs, dos artigos 58.º e 59.º da Constituição, devendo reconhecer-se a estes preceitos «a função de delimitar o núcleo duro, típico, das matérias que se reportam às relações laborais e que constituirão o objecto próprio das convenções colectivas» [cf. «Contratação colectiva e benefícios complementares de segurança social - O problema da (in)constitucionalidade material das normas limitadoras da contratação colectiva no domínio da segurança social», in Scientia Iuridica, n.º 290, Maio-Agosto de 1991, p. 35]. Tal núcleo duro integrará, portanto, nomeadamente, as matérias referentes à retribuição
Em referência ao núcleo essencial do direito de contratação colectiva, Gomes Canotilho e Vital Moreira falam de uma reserva de contratação colectiva (cf. Constituição da República Portuguesa Anotada, 4.ª ed., cit., p. 749). Como se referiu no Acórdão n.º 54/2009 (publicado nos Acórdãos do Tribunal Constitucional, vol. 74, pp. 363 e segs.), «a reserva constitucional de convenção colectiva implica não só uma autocontenção do legislador estadual no sentido de não regular, pela via legislativa, todo o espaço atinente às relações de trabalho, assim anulando virtualmente a autonomia colectiva dos parceiros, como de tal reserva resulta também a imposição de núcleos materiais reservados pela lei à contratação colectiva».
O legislador pode, pois, regular a eficácia temporal das convenções colectivas e pode estabelecer limites ou restrições a tal eficácia quando e na medida em que tal se justifique, sem que ponha em causa o núcleo essencial do direito, que se encontra salvaguardado pelo artigo 501.º, n.º 6, do Código do Trabalho.
Essas razões foram invocadas pelo Tribunal no Acórdão n.º 306/2003, já citado:
«Entende, porém, o Tribunal que a questionada solução legislativa, impondo limites que se consideram mitigados à sobrevigência, se mostra razoável e equilibrada. Desde logo, ela surge como mera solução supletiva, competindo às partes, em primeira linha, a adopção do regime que reputem mais adequado. Depois, é assegurado, após a denúncia e até ao início da arbitragem, um período de sobrevigência que pode atingir os dois anos e meio. Finalmente, seria contraditório com a autonomia das partes, que é o fundamento da contratação colectiva, a imposição a uma delas, por vontade unilateral da outra, da perpetuação de uma vinculação não desejada.
Constitui, no entanto, pressuposto desta posição o entendimento de que a caducidade da eficácia normativa da convenção não impede que os efeitos desse regime se mantenham quanto aos contratos individuais de trabalho celebrados na sua vigência e às respectivas renovações.»
É, então, necessário ter em consideração as razões que depõem contra o sistema alternativo ao da caducidade que é o da «perpetuidade unilateral».
O direito de contratação colectiva é antes de mais o direito de negociar e celebrar acordos colectivos, constituindo uma expressão da autonomia colectiva. Aquilo que ele essencialmente defende é essa autonomia colectiva; não defende uma espécie de proibição do retrocesso social de nível convencional encontrando-se este conteúdo fora do âmbito de protecção de tal direito. Compreende-se pois que tais acordos devam poder ser revistos em função da inevitável alteração das circunstâncias em que são celebrados. Por isso, é legítimo ao legislador impor limites à sobrevigência temporal das convenções colectivas privando-as de uma potencial perpetuidade.
Neste contexto, resta relembrar que a lei prevê mecanismos de mediação, conciliação e arbitragem com vista a solucionar impasses negociais e que prevê inclusivamente mecanismos de arbitragem obrigatória ou necessária, que valem para os casos de caducidade das convenções colectivas (artigos 508.º a 511.º do Código do Trabalho).
No que respeita à manutenção dos direitos individuais dos trabalhadores reconhecidos por convenção colectiva é necessário começar por dizer que o direito de contratação colectiva é essencialmente um direito institucional das associações sindicais que só reflexamente se refere aos trabalhadores individualmente considerados. Neste sentido, considera Vieira de Andrade que a contratação colectiva é, nos termos constitucionais, uma garantia institucional e não um direito fundamental, falando de um «instituto da contratação colectiva destinado a proteger direitos fundamentais dos trabalhadores» (Os Direitos Fundamentais..., 4.ª ed., Coimbra, 2009, pp. 134-137). Jorge Miranda fala de direitos fundamentais institucionais que contrapõe aos direitos individuais, embora reconhecendo-lhes um «radical subjectivo e um sentido último de protecção da pessoa» (Manual de Direito Constitucional, Tomo IV - Direitos Fundamentais, 4.ª ed., Coimbra, Almedina, 2008, p. 100).
Por fim deve notar-se que, não obstante as diversas posições doutrinárias que se enunciaram, se é verdade que o estatuto dos trabalhadores só se mantém, nos termos do n.º 6 do artigo 501.º, em relação a alguns aspectos da relação de trabalho, aquilo que se mantém - retribuição, categoria, tempo de trabalho e benefícios sociais - é, sem dúvida, o mais relevante e importante da posição contratual de qualquer trabalhador, integrando, assim, o respectivo «núcleo essencial», relativo ao estatuto do trabalhador.
E se no artigo 10.º da Lei n.º 7/2009, não se contém uma tal cláusula de salvaguarda da posição individual dos trabalhadores, tal não significa que esses trabalhadores não tenham uma protecção semelhante.
Na verdade, deve desde logo adiantar-se que o conteúdo essencial do artigo 501.º, n.º 6, resulta já em boa parte dos termos gerais em que a lei prevê as «garantias do trabalhador» (artigo 129.º do Código do Trabalho), pretendendo «preservar a situação funcional básica do trabalhador», não só no que se refere à retribuição e à categoria (expressamente previstas no catálogo legal de garantias dos trabalhadores), mas inclusivamente no que respeita aos tempos de trabalho, uma vez que, quanto a este último ponto, «a solução contrária envolveria a diminuição da retribuição/hora do trabalhador» (v. Bernardo Xavier, «Vigência e sobrevigência das convenções colectivas de trabalho», in RDES, ano xlix, 2008, pp. 92-95, incluindo a n. 142).
Simplesmente, não será necessário invocar tais garantias gerais do trabalhador, havendo norma especial. O artigo 501.º, n.º 6, confere uma protecção mais ampla aos trabalhadores, abrangendo nomeadamente os benefícios sociais que não estão contidos nas garantias do artigo 129.º do Código do Trabalho. E o artigo 10.º da Lei n.º 7/2009 não pretende pôr em causa a salvaguarda da posição dos trabalhadores que é feita nesse n.º 6 do artigo 501.º do Código do Trabalho. Na verdade, o artigo 10.º pretende apenas resolver um problema específico que é o da caducidade das convenções colectivas de trabalho anteriores à entrada em vigor do Código do Trabalho que têm uma «cláusula de manutenção da vigência da convenção até à sua substituição», estabelecendo prazos mais curtos e meios mais céleres do que os previstos no artigo 501.º do Código do Trabalho. O que sucedeu (e está na origem desta disposição) foi que, na vigência do Código de 2003, a administração laboral se recusou a publicar os avisos das denúncias das convenções colectivas sempre que existisse uma cláusula de manutenção da vigência da convenção até à sua substituição [Luís Gonçalves da Silva, Código do Trabalho Anotado, 7.ª ed., Pedro Martínez et al. (orgs.), cit., p. 77]. Ora o artigo 10.º pretende apenas estabelecer um regime de caducidade para as convenções colectivas mais antigas que contenham uma «cláusula de manutenção da vigência da convenção até à sua substituição», fixando prazos mais estreitos e facilitando a publicação dos avisos de denúncia. Não pretende o legislador regular nem o modo de induzir à celebração de uma nova convenção colectiva nem a situação individual dos trabalhadores após a caducidade das convenções antigas. Essa matéria está regulada no Código do Trabalho e, mais especificamente, no que respeita à posição individual dos trabalhadores, no artigo 501.º, n.º 6 (a que acresce o n.º 7 que se limita a afirmar o óbvio: a caducidade das convenções colectivas não prejudica os direitos e garantias dos trabalhadores consagrados na lei laboral).
Assim, se uma convenção colectiva caduca, o trabalhador que estava por ela abrangido continuará a beneficiar de todos os direitos que o contrato de trabalho, as leis e a Constituição lhe reconhecem. Beneficiará, ainda, dos direitos relativos à retribuição, categoria, tempos de trabalho e benefícios sociais que a convenção caducada lhe concedia (artigo 501.º, n.º 6, do Código do Trabalho). Quanto ao resto, estará dependente daquilo que - dentro dos prazos de sobrevigência das convenções e, eventualmente, com recurso à mediação, conciliação ou arbitragem - venha a resultar de um novo contrato colectivo. Mas não poderá validamente invocar o direito de contratação colectiva (artigo 56.º, n.º 3, da Constituição) como direito a manter intactas todas as condições que de que beneficiaria se a convenção colectiva de que outrora beneficiou se mantivesse plenamente em vigor. O legislador pode validamente estabelecer limites ou restrições à eficácia temporal das convenções colectivas (artigo 56.º, n.º 4, da Constituição).
Nestes termos, o artigo 501.º do Código do Trabalho e o artigo 10.º da Lei n.º 7/2009, não violam o direito de contratação colectiva (artigo 56.º, n.os 3 e 4, da Constituição) não padecendo, por isso, de qualquer vício de inconstitucionalidade.
III - Decisão. - Pelos fundamentos expostos, o Tribunal Constitucional decide:
1) Declarar a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, da norma constante do artigo 356.º, n.º 1, do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, por violação do artigo 32.º, n.º 10, conjugado com o artigo 53.º, da Constituição;
2) Não declarar a inconstitucionalidade dos restantes artigos objecto do pedido:
a) Do n.º 1, e em consequência dos n.os 2 a 5, do artigo 3.º do Código de Trabalho;
b) Das alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 140.º do Código do Trabalho;
c) Do n.º 1 do artigo 163.º do mesmo Código;
d) Dos artigos 205.º, 206.º, 208.º e 209.º do Código em referência;
e) Do artigo 392.º do Código do Trabalho;
f) Do artigo 497.º do mesmo Código; e
g) Dos artigos 501.º do Código do Trabalho e 10.º da Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro.
Lisboa, 22 de Setembro de 2010. - José Borges Soeiro - Vítor Gomes - Gil Galvão [vencido quanto ao n.º 1 e quanto à alínea e) do n.º 2 da decisão, conforme declaração anexa] - Maria Lúcia Amaral [vencida quanto ao n.º 1 e parcialmente quanto à alínea d) do n.º 2 da decisão, conforme declaração em anexo] - Catarina Sarmento e Castro [vencida parcialmente quanto às alíneas b) e d) do n.º 2 da decisão, conforme declaração em anexo] - Carlos Fernandes Cadilha [vencido parcialmente quanto às alíneas b) e d) do n.º 2 da decisão, conforme a declaração em anexo] - Maria João Antunes [vencida quanto às alíneas a) e c) do n.º 2 da decisão, conforme declaração em anexo] - Carlos Pamplona de Oliveira (vencido quanto ao n.º 1 da decisão, por entender que a norma do n.º 1 do artigo 356.º do Código do Trabalho não ofende qualquer preceito do princípio constitucional, designadamente os artigos 32.º, n.º 10, e 53.º da Constituição) - João Cura Mariano [vencido, parcialmente, quanto à não declaração de inconstitucionalidade dos artigos 140.º, n.º 4, alínea b), 206.º, n.º 1, 208.º e 209.º, n.º 1, do Código do Trabalho] - Joaquim de Sousa Ribeiro {vencido, em parte, quanto às alíneas b) [ponto b)], d) (quanto ao artigo 206.º) e f) do n.º 2 da decisão, conforme declaração em anexo} - Ana Maria Guerra Martins [vencida quanto ao n.º 2, alínea b), da decisão na parte respeitante à alínea b) do n.º 4 do artigo 140.º do CT e quanto à alínea d) da decisão na parte relativa ao artigo 206.º do CT, nos termos da declaração a anexar] - Rui Manuel Moura Ramos (vencido quanto ao n.º 1 da decisão nos termos da declaração de voto a anexar).
Declaração de voto
Votei vencido quanto à alínea a) da decisão, no essencial, por considerar que nada na Constituição da República Portuguesa implica que a resolução de um contrato - ainda que de trabalho e por iniciativa do empregador - seja considerada uma sanção e, como tal, esteja sujeita a um processo sancionatório coberto pelo seu artigo 32.º, n.º 10. Sendo, ainda, certo que não existe qualquer alteridade na decisão disciplinar relativa a um contrato de trabalho de âmbito privado, decisão essa que, em caso algum, é uma decisão de «terceiro».
Votei igualmente vencido quanto à decisão de não inconstitucionalidade da norma do artigo 392.º do Código do Trabalho, respeitante à oposição à reintegração, por entender, tal como no Acórdão n.º 306/2003, que, «nas hipóteses contempladas na norma a que ela se refere, não tendo sido considerada procedente, pelo tribunal competente, a existência de uma justa causa de despedimento (e não estando em causa a protecção de um direito fundamental), o não reconhecimento da continuidade do vínculo laboral (traduzido numa não 'reintegração' do trabalhador, em rigor, não despedido) não pode deixar de configurar uma flagrante violação da proibição contida no artigo 53.º da Constituição». - Gil Galvão.
Declaração de voto
Dissenti do juízo maioritário do Tribunal quanto a duas questões fundamentais.
Em primeiro lugar, quanto à declaração de inconstitucionalidade relativa à instrução facultativa no processo disciplinar, prevista no artigo 356.º, n.º 1, do Código de Trabalho.
Para o Tribunal, não existem dúvidas de que o processo disciplinar laboral se apresenta como um dos processos sancionatórios abrangidos pelo n.º 10 do artigo 32.º da CRP, pois que, i. e., onde a Constituição não distingue (entre «processos levantados por entidades públicas e processos levantados por entidades privadas») não deve o legislador ordinário distinguir. Discordo desta orientação. A meu ver, nem das garantias de processo criminal previstas no artigo 32.º - ancoradas, por natureza e história, no âmago do sistema de liberdades do cidadão contra os desmandos dos poderes públicos - nem da garantia de segurança no emprego do artigo 53.º - dirigida antes do mais a assegurar a possível estabilidade do emprego que se procurou e obteve, e a proibir, concomitantemente, que se tolerem na legislação ordinária formas arbitrárias de cessação do contrato do trabalho por iniciativa do empregador - se pode retirar a necessária publicização do procedimento disciplinar laboral a que conduz o juízo do Tribunal. Subjacente a este juízo está a convicção segundo a qual a Constituição consagra, para o processo disciplinar laboral, uma garantia procedimental objectiva dotada de tal conteúdo e alcance que obriga à equiparação entre o estatuto do trabalhador (alvo de processo disciplinar) e o estatuto do «arguido». Não vejo, contudo, onde se inscreva, na CRP, a inelutabilidade da equiparação.
Em segundo lugar, dissenti do juízo maioritário do Tribunal quanto à não inconstitucionalidade da figura da «adaptabilidade grupal», prevista no artigo 206.º do Código de Trabalho.
Subscrevo, em geral, a fundamentação do Acórdão quanto às restantes modalidades de (re)organização do tempo de trabalho, previstas nos artigos 205.º, 208.º e 209.º do CE. Trata-se, aqui, de modos de regulação do tempo de trabalho que, distribuindo-o em termos médios, durante um período delimitado e mediante o consentimento do trabalhador - seja tal consentimento individual, seja ele mediado por acordo obtido em convenção colectiva celebrada por entidade de que se é filiado -, se apresentam como formas legítimas de prosseguir fins, constitucionalmente valiosos, de racionalidade económica empresarial.
Com a figura da «adaptabilidade grupal», porém, permite-se que estes modos de reorganização do tempo do trabalho, que podem ir até ao aumento de quatro horas diárias e de sessenta horas semanais, sejam impostas a trabalhadores que neles não consentiram (artigo 206.º, n.os 1 e 2, do CE). Tanto basta, a meu ver, para que se conclua que ocorre aqui uma restrição ilegítima do direito consagrado na alínea d) do n.º 1 do artigo 58.º da Constituição: não me parece, com efeito, que a medida legislativa passe o teste proporcionalidade na sua dimensão de necessidade. Fica por provar que seja esta a única via necessária para a realização dos fins de racionalidade económica que o legislador ordinário, em harmonia com a Constituição, pretende alcançar. Fica por provar a inexistência de outros meios que, sendo igualmente aptos para a realização dos mesmos fins, se mostrem no entanto menos agressivos dos bens jurídicos que o direito ao repouso (e o mandamento constitucional de protecção da família) visam tutelar. - Maria Lúcia Amaral.
Declaração de voto
Afastei-me do sentido da decisão do Acórdão, relativamente às alíneas b) e d) do n.º 2, quanto a estas votando parcialmente vencida.
Em meu entender, são inconstitucionais a alínea b) do n.º 4, do artigo 140.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, bem como o artigo 206.º do mesmo, a primeira, por considerar que põe em causa a segurança no emprego consagrada no artigo 53.º da CRP, a segunda, por violar o artigo 59.º, n.º 1, alíneas b), c) e d), da CRP.
Assim, votei no sentido da inconstitucionalidade da alínea b) do n.º 4 do artigo 140.º, por, na minha opinião, os contratos a termo deverem revestir carácter excepcional, excepção que o legislador só poderá consagrar quando seja encontrada uma justificação atendível.
A Constituição, ao estabelecer uma garantia de segurança no emprego, veda soluções que, injustificadamente, ponham em causa a sua estabilidade, compreendendo um direito à manutenção do posto de trabalho. A lei fundamental pretendeu afastar a precariedade da relação de trabalho, admitindo-a somente quando exista um motivo justificado. Com a exigência de justificação atendível, procura-se garantir o equilíbrio entre a segurança no emprego e a livre iniciativa económica privada (artigo 61.º, n.º 1, da CRP). Esta solução impossibilita a opção sistemática do empregador por um contrato a termo por forma a fazer cessar um contrato sem ter de despedir o trabalhador, para tal lhe bastando a não renovação do contrato no final do prazo. A relação de trabalho temporalmente indeterminada é a regra, sendo a excepção o contrato a termo, pelo que o legislador, para cumprir o seu dever de proteger o direito à segurança no emprego, terá de ponderar direitos ou interesses que possam conflituar entre si.
No caso, as soluções apontadas na alínea b) - contratação de trabalhador à procura do primeiro emprego, em situação de desemprego de longa duração, ou outras previstas em legislação especial de política de emprego - não configuram, a meu ver, opções legislativas que possam considerar-se razoavelmente justificadas.
Estas constituem medidas de política de emprego que poderiam ser substituídas por outras menos gravosas. Também não creio que colham razões como as do incentivo ao primeiro emprego, quando é possível encontrar outras formas menos onerosas de o fazer. É, até, paradoxal que para se incentivar o emprego dos que se encontram nesta situação, se opte por deixá-los mais vulneráveis ao procurar protegê-los.
Não se aceita a tese que põe em causa, sem mais, a qualidade dos trabalhadores destinatários desta opção legislativa (o Acórdão seguiu, aqui, o Acórdão n.º 581/95), situação que se procura justificar invocando-se os riscos que estes representariam. Acresce que a estipulação de um período experimental permite, precisamente, amenizar o risco de inadaptação ou inaptidão. Qualificar como medida de fomento do emprego, que visa proteger o desempregado de longa duração e o trabalhador à procura do primeiro emprego, uma medida que os penaliza precisamente enquanto categorias mais vulneráveis, não pode justificar a solução adoptada.
A situação assume contornos ainda mais preocupantes quando, segundo alguma jurisprudência, integram a categoria de trabalhador à procura do primeiro emprego as pessoas que nunca prestaram a sua actividade mediante a celebração de contratos de trabalho sem termo.
Também votei a inconstitucionalidade do artigo 206.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, divergindo da maioria, por considerar que o direito ao repouso e ao lazer, à organização do trabalho em condições socialmente dignificantes de forma a facultar a realização pessoal e a permitir a conciliação da actividade profissional com a vida familiar (artigo 59.º da CRP), bem como os direitos ao livre desenvolvimento da personalidade (artigo 26.º, n.º 1, da CRP), da protecção da família (artigo 67.º da CRP) e da saúde (artigo 64.º da CRP), com aqueles conexos, são desproporcionadamente afectados pela solução de adaptabilidade grupal. Esta reorganização do tempo de trabalho terá lugar, em várias circunstâncias, na ausência de qualquer tipo de manifestação de vontade do trabalhador (individual ou colectiva). A solução é ainda mais gritante quando a norma autoriza o recurso a este mecanismo ainda que tenha havido manifestação expressa em sentido contrário por parte do trabalhador.
Por outro lado, a meu ver, e sem esquecer a realidade social dominante que ainda se traduz em diferenciações práticas de grande relevo, a norma vai prejudicar em especial as mulheres integradas em situações profissionais dominadas por homens, ao prejudicar fortemente (a todos, mas estas em particular) o direito à conciliação do trabalho e da família.
Grave, e também revelador de desigualdade, é ainda o facto de o regime da adaptabilidade grupal, que não se aplica ao trabalhador abrangido por convenção colectiva que disponha de modo contrário a esta solução, nem ao trabalhador representado por associação sindical que tenha deduzido oposição a portaria de extensão da convenção colectiva em causa, aplicar-se, todavia, aos restantes trabalhadores da equipa, secção ou unidade económica. Esta solução constitui, quer uma violação do princípio da igualdade (e nem se diga que não são iguais as situações pois, uns seriam sindicalizados, outros não!), quer uma violação da liberdade negativa de associação, ao prejudicar aqueles que, por opção, não se sindicalizaram (ou o fizeram noutra associação sindical) e que, por essa razão, devem ter direito à não vinculação (assim como não beneficiam das vantagens que possam aqueles negociar para os respectivos associados).
Não estendi o mesmo juízo de inconstitucionalidade ao artigo 209.º, que disciplina o horário concentrado, por entender que, ao contrário do disposto no artigo 206.º relativo à adaptabilidade grupal, ali se exige o acordo do trabalhador, ainda que colectivamente manifestado (o consentimento é prestado, ou por acordo entre empregador e trabalhador, ou é estipulado em instrumento de regulamentação colectiva). - Catarina Sarmento e Castro.
Declaração de voto
1 - Votei vencido quanto à decisão da alínea b) do n.º 2 da decisão, no ponto em que se refere à admissibilidade do contrato de trabalho a termo para contratação de trabalhador à procura do primeiro emprego, prevista no artigo 140.º, n.º 2, alínea b), do Código do Trabalho, com base essencialmente nas seguintes ordens de considerações:
A possibilidade de contratação a termo de trabalhador à procura de primeiro emprego, segundo o disposto no artigo 140.º, n.º 2, alínea b), do Código do Trabalho, entendido como tal «aquele que não tenha sido anteriormente contratado por tempo indeterminado», como sustenta a jurisprudência uniforme do Supremo Tribunal de Justiça, conduz na prática a uma situação de precarização extrema, permitindo que trabalhadores que tenham permanecido em regime de contrato a termo durante uma grande parte da sua vida activa contin a ser considerados, para os efeitos previstos naquela disposição, como trabalhadores à procura do primeiro emprego.
Nesse plano, a solução legal envolve uma violação do direito à segurança no emprego, constitucionalmente consagrado (artigo 53.º da CRP), na medida em que se entenda que o respectivo âmbito de protecção abrange, não apenas o direito a não ser despedido sem justa causa ou por motivos políticos ou ideológicos, mas também todas as situações que se traduzam em injustificada precariedade da relação de trabalho (Gomes Canotilho/Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, vol. i, 4.ª ed., Coimbra, p. 711).
Relevando-se essa medida objectivamente como uma restrição à segurança no emprego, afigura-se não possuir significativo relevo, no quadro de aferição da respectiva constitucionalidade, a previsão de diversos mecanismos de salvaguarda do sistema: a proibição da celebração de um novo contrato a termo, durante um certo período de tempo, para o mesmo posto de trabalho a que se encontrou afecto um outro trabalhador contratado a termo, não é aplicável justamente no caso em que o regime de contratação seja o de trabalhador à procura de primeiro emprego [artigo 143.º, n.os 1 e 2, alínea d)]; por outro lado, as exigências respeitantes à forma e ao conteúdo do contrato, designadamente quanto à obrigatória indicação do motivo justificativo (artigo 141.º), bem como a limitação da duração do contrato e a proibição da sua renovação para além de um certo número de vezes (artigo 148.º), ou a conversão em contrato sem termo em caso de incumprimento dos requisitos de que depende a estipulação do termo (artigo 147.º), poderão condicionar ou dificultar o recurso ao trabalho precário, mas não representam em si uma qualquer garantia de estabilidade de emprego, nem impedem que as entidades empregadoras, através da rotação dos trabalhadores, possam utilizar sucessivamente o contrato a termo, com o fundamento previsto no artigo 140.º, n.º 4, alínea b), para o exercício das mesmas funções ou para a satisfação das mesmas necessidades de serviço.
Por outro lado, ainda que se entenda que a solução normativa assenta em considerações de política de emprego, visando criar nas entidades empregadoras a convicção de inexistência de riscos na contratação de trabalhadores para, dessa forma, facilitar a contratação a termo de trabalhadores que de outro modo não teriam oportunidade de obter trabalho, nada permite concluir que essa seja uma medida idónea ou sequer necessária para a prossecução dos fins que assim o legislador tenha pretendido atingir.
De facto, a norma não contribui para o incentivo ao emprego ou a criação de novos postos de trabalho e apenas permite que postos de trabalho correspondentes a necessidades permanentes de serviço - e a que deveria corresponder uma relação permanente de trabalho - possam ser preenchidos através de sucessivos contratos de trabalho a termo com os mesmos ou outros trabalhadores que anteriormente nunca tenham sido contratados por tempo indeterminado. E as faladas limitações à celebração do contratos a termo sucessivos em nada altera este resultado, implicando apenas que o empregador, para postos de trabalho já existentes, tenha de substituir trabalhadores que já não possam ser de novo contratados a termo por outros relativamente aos quais se não verifique o mesmo impedimento.
Ou seja, a norma não favorece um alargamento do mercado de trabalho e antes provoca um prolongamento artificial do regime de contratação a termo, permitindo que o trabalho precário possa ser mantido indefinidamente fora daquelas situações conjunturais que se mostrem justificadas por necessidades temporárias de trabalho ou aumentos anormais do volume de serviço da empresa. Tendo-se como assente que a garantia de segurança no emprego está em relação com a efectividade do direito ao trabalho (artigo 58.º da CRP) e que é a própria lei fundamental que comete ao Estado a incumbência de realização de políticas de pleno emprego, em nome também da efectividade desse direito [artigo 58.º, n.º 3, alínea a), da CRP], essa mesma garantia deve ter como pressuposto que, em princípio, a relação de trabalho é temporalmente indeterminada, só podendo ficar sujeita a prazo quando houver razões que o exijam (Gomes Canotilho/Vital Moreira, ob. e loc. cit.). Neste contexto, a previsão legal de uma excepção a esse princípio que se não encontre relevantemente justificada, como é o caso da contratação a termo de trabalhador à procura de primeiro emprego, não pode deixar de ser tida como desconforme à Constituição.
2 - Votei vencido quanto à decisão da alínea e) do n.º 2 da decisão pelas razões constantes da declaração de voto do conselheiro Mário Torres aposta no Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 306/2003. - Carlos Alberto Fernandes Cadilha.
Declaração de voto
Votei no sentido da inconstitucionalidade do artigo 3.º, n.º 1, por violação do artigo 59.º, n.º 2, da Constituição da República Portuguesa (CRP); e do artigo 163.º, n.º 1, por violação do artigo 53.º da CRP.
1 - Em matéria de relações entre fontes de regulação, o n.º 1 do artigo 3.º do Código do Trabalho dispõe que «as normas legais reguladoras de contrato de trabalho podem ser afastadas por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho, salvo quando delas resultar o contrário». Ao dispor desta forma, o afastamento da lei laboral por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho deixa de constituir uma excepção, desrespeitando-se a regra da imperatividade da lei que está estabelecida no artigo 59.º, n.º 2, da CRP. Não obstante a ressalva constante da parte final do n.º 1 e do que se preceitua no n.º 3, as normas legais não deixam de ser, em princípio, supletivas face à contratação colectiva, podendo ser afastadas in pejus por esta, quando «incumbe ao Estado assegurar as condições de trabalho, retribuição e repouso a que os trabalhadores têm direito» (assim, João Leal Amado, Contrato de Trabalho, Coimbra Editora, 2010, pp. 51 e segs.).
2 - Ao dispor que «qualquer das partes pode pôr termo à comissão de serviço, mediante aviso prévio por escrito, com a antecedência mínima de 30 ou 60 dias, consoante aquela tenha durado, respectivamente, até dois anos ou período superior», o artigo 163.º, n.º 1, do Código do Trabalho viola o artigo 53.º da CRP («Segurança no emprego»), quando em causa esteja uma comissão de serviço externa sem acordo de permanência (sem garantia de emprego).
Na natureza desta modalidade de contrato de trabalho está, certamente, a faculdade de qualquer das partes pôr termo à comissão de serviço, mas já não está, precisamente porque se trata de uma modalidade do contrato de trabalho, a cessação livre e não motivada da relação laboral (assim o vem assinalando a doutrina, Jorge Leite, Questões Laborais, 2000, n.º 16, pp. 156 e segs., especialmente a n. 9, Júlio Gomes, Direito do Trabalho, i, Coimbra Editora, 2007, pp. 752 e segs., e João Leal Amado, ob. cit., pp. 150 e segs.). É pressuposto deste entendimento, sem que consigamos divisar quaisquer razões que apontem em sentido contrário, que a modalidade de contrato de trabalho «comissão de serviço» integra o âmbito de aplicação do artigo 53.º da CRP. - Maria João Antunes.
Declaração de voto
Divergi do julgamento de não inconstitucionalidade das normas constantes dos artigos 140.º, n.º 4, alínea b), 206.º, n.º 1, 208.º e 209.º, n.º 1, alínea b), do Código de Trabalho pelas razões que passo a expor:
a) A inconstitucionalidade da norma constante do artigo 140.º, n.º 4, alínea b). - O artigo 140.º, n.º 4, alínea b), do Código de Trabalho, permite a celebração de contrato de trabalho a termo, no caso de contratação de trabalhador à procura de primeiro emprego ou em situação de desemprego de longa duração.
O artigo 53.º da Constituição optou por impor um modelo de política laboral de garantia da segurança no emprego, o que inclui um direito à estabilidade do trabalho que se procurou e obteve. Tal implica a proibição de consagração pelo legislador de situações injustificadas de precariedade de emprego, pelo que o estabelecimento entre trabalhadores e empregadores de relações de trabalho constituídas por contratos de duração indeterminada deve ser a regra e a contratação a termo a excepção devida e suficientemente justificada, uma vez que se traduz numa restrição ao direito constitucional à segurança no emprego.
Ora a possibilidade de celebração de contratos a termo com trabalhadores à procura do primeiro emprego e desempregados de longa duração, insere-se numa política de emprego, tendo como finalidade proclamada estimular a celebração de contratos de trabalho com pessoas que integram categorias com maior dificuldade em serem contratadas, pela falta de experiência ou de experiência recente, diminuindo os riscos da contratação laboral para a entidade empregadora. Procura-se tornar mais apelativa aos olhos dos empregadores a contratação destes trabalhadores, retirando-lhes o direito à segurança no emprego.
Note-se que não estamos perante a criação de um tempo de precariedade justificado pela inexperiência do trabalhador, uma vez que este já tem a sua previsão na existência de um período experimental nos contratos de trabalho, mas sim na atribuição a determinadas categorias de trabalhadores de um estatuto laboral diminuído, de modo a facilitar-lhes a obtenção de um emprego, apesar de precário.
É verdade que o artigo 58.º, n.º 1, da Constituição garante a todos o direito ao trabalho e a alínea a) do n.º 2 do mesmo preceito incumbe o Estado de promover políticas de pleno emprego, onde se inclui necessariamente a adopção de medidas que incentivem a empregabilidade daqueles que, pelas mais diversas situações, incluindo a falta de experiência, tenham maior dificuldade em serem escolhidos no mercado de trabalho.
Embora as dificuldades dos jovens à procura do primeiro emprego ou dos desempregados de longa duração sejam hoje em dia bem reais, isso não avaliza qualquer política de promoção do seu emprego, nomeadamente aquela que, como solução, prescinde da estabilidade do vínculo laboral.
Conforme tem afirmado o Tribunal Constitucional em sucessivos acórdãos (v., por todos, o recente Acórdão n.º 632/08, acessível em www.tribconstitucional.pt), o direito ao trabalho tem, na Constituição Portuguesa, uma face ou dimensão negativa, que é aquela que decorre do direito à não privação arbitrária do emprego que se procurou e obteve, e não pode olvidá-la em nome de um combate pela sua afirmação positiva, ou seja, o direito a procurar e obter um emprego. As duas faces são incindíveis e a salvaguarda duma não pode ser obtida à custa do sacrifício da outra.
No nosso sistema, o direito ao trabalho não é um direito a ingressar em qualquer relação laboral, sejam quais forem as suas características, mas o direito a ser trabalhador duma relação laboral dotada de estabilidade, à qual o empregador não pode arbitrariamente pôr termo.
Não é possível, pois, perseguir a face positiva do direito ao trabalho através da desprotecção da sua face negativa, pelo que violam flagrantemente o direito constitucional ao trabalho, na sua dimensão da segurança do emprego, as medidas políticas que, visando promover o emprego de determinada categoria de trabalhadores, permitam que os mesmos sejam contratados com um vínculo precário.
Não se poderá, pois, dizer que tais medidas tenham a cobertura do direito fundamental ao trabalho enunciado no artigo 58.º da Constituição, devendo ser encaradas como restrições constitucionalmente ilícitas, por não terem justificação suficiente, implicando uma violação dos limites aos limites dos direitos que o artigo 18.º da Constituição impõe.
Nesta perspectiva, pronunciei-me pela inconstitucionalidade da norma contida no artigo 140.º, n.º 4, alínea b), do Código de Trabalho.
b) A inconstitucionalidade das normas constantes dos artigos 206.º, n.º 1, 208.º e 209.º, n.os 1, alínea b), e 3. - Depois de no artigo 203.º do Código do Trabalho se fixarem limites máximos para o período normal de trabalho de oito horas diárias e quarenta horas semanais, nos preceitos seguintes criaram-se mecanismos extraordinários de organização do tempo de trabalho em que se permite aos empregadores imporem aos trabalhadores horários que ultrapassam significativamente esses limites (até doze horas diárias e sessenta semanais), com a compensação de uma correlativa redução das horas diárias ou semanais num outro momento inserido dentro de um determinado período de referência (no regime de banco de horas também se admite a compensação em dinheiro).
Estes mecanismos correspondem a um modelo de adaptabilidade do tempo de trabalho às necessidades empresariais, em que a contagem do tempo do período normal de trabalho é efectuada em termos médios num determinado período de referência, sendo elevados os tempos de trabalho máximos diários e semanais.
Relativamente às normas cuja fiscalização foi peticionada (artigos 205.º, n.º 4, 206.º, 208.º e 209.º) verifica-se que nos artigos 206.º, n.º 1 («Adaptabilidade por regulamentação colectiva grupal»), 208.º («Banco de horas») e 209.º, n.º 1, alínea b) («Horário concentrado»), se admite a fixação destes regimes de adaptabilidade, por instrumento de regulamentação colectiva, sem necessidade de aceitação individual dos trabalhadores ou sem sequer lhes admitir a possibilidade de pedirem dispensa de cumprimento desses horários, com invocação de razões socialmente atendíveis.
A determinação do tempo de trabalho é essencial para limitar a subordinação do trabalhador perante a entidade patronal, assegurando a sua liberdade pessoal ao delimitar temporalmente a sua disponibilidade. É por aí que também passa a distinção entre uma relação de trabalho e uma relação de servidão.
Por isso a Constituição impõe ao legislador a fixação, a nível nacional, dos limites da duração do trabalho, designadamente da jornada de trabalho [artigo 59.º, n.os 2, alínea b), e 1, alínea d)], conferindo simultaneamente aos trabalhadores um direito ao repouso e aos lazeres e à organização do trabalho em condições que permitam a conciliação da actividade profissional com a vida familiar [artigo 59.º, n.º 1, alíneas b) e d)].
Para assegurar esses direitos fundamentais dos trabalhadores não basta que o legislador estabeleça tectos aos horários laborais, mas também que os tectos estabelecidos se situem num nível que permitam ao trabalhador o repouso, o lazer e tempos dedicados à vida familiar razoáveis, de acordo com os padrões e ritmo de vida actuais, sendo nestes domínios essenciais os limites máximos das horas diárias e semanais de trabalho.
Na verdade, só o repouso e a dedicação à vida familiar nuclear, incluindo a realização das tarefas domésticas, por razões biológicas e de organização social, exigem que o trabalhador tenha disponível um significativo espaço de tempo diário.
Ora, ao permitir-se que se exija que um trabalhador, durante um período que pode ter uma duração considerável, trabalhe doze em vinte e quatro horas, se não esquecermos os necessários intervalos para tomar as refeições e o tempo despendido nas deslocações entre a residência e o local de trabalho que nas grandes cidades chega a ultrapassar as duas horas, é de uma flagrante evidência que tal regime ofende o direito ao repouso, ao lazer e à conciliação da actividade profissional com a vida familiar dos trabalhadores, uma vez que lhes «rouba» o tempo minimamente necessário para gozarem essa parte das suas vidas.
E a previsão da redução do horário de trabalho normal em períodos posteriores ou o pagamento de uma prestação pecuniária retributiva não é capaz de repor os níveis de descanso definitivamente perdidos, nem a falta de dedicação à vida familiar irreparavelmente ocorrida, funcionando apenas como uma mera compensação para o acréscimo de disponibilidade exigido.
As necessidades empresariais são incapazes de justificar minimamente uma restrição tão severa de direitos tão fundamentais como são o direito ao repouso, ao lazer e à conciliação da actividade profissional com a vida familiar dos trabalhadores.
Ora se é defensável que o nível de ofensa destes direitos fundamentais resultante da aplicação dos referidos regimes de adaptabilidade admite ainda uma autolimitação pelos trabalhadores afectados, esse consentimento tem que resultar de um acto pessoal dos titulares desses direitos, não tendo as associações sindicais legitimidade para a sua prática.
Daí que não seja admissível que um qualquer instrumento de regulamentação colectiva de trabalho, mesmo uma convenção colectiva, possa fixar, dispensando um acto de aceitação individual dos trabalhadores, um dos referidos regimes de adaptabilidade que contrariam flagrantemente tais direitos fundamentais.
Estando as normas destes instrumentos obrigadas a respeitar os parâmetros constitucionais, não pode a lei permitir que eles prevejam um regime que os contrarie.
Assim, os artigos 206.º, n.º 1, 208.º, e 209.º, n.º 1, alínea b), do Código de Trabalho, ao permitirem que um instrumento de regulamentação colectiva de trabalho preveja a possibilidade da entidade empregadora impor unilateralmente aos trabalhadores a prática de um horário de trabalho que pode atingir as doze horas diárias e as sessenta horas semanais, durante um período significativo de tempo, violam o disposto no artigo 59.º, n.º 1, alíneas b) e d), da Constituição, pelo que me pronunciei pela sua inconstitucionalidade. - João Cura Mariano.
Declaração de voto
Não acompanhei, em três pontos, o acórdão a que esta declaração se anexa, pelas razões que passo a expor.
1 - Quanto à alínea b) do n.º 4 do artigo 140.º do Código do Trabalho:
1.1 - Em reafirmação recente de uma orientação bem consolidada, o Tribunal Constitucional, no Acórdão n.º 632/2008, voltou a destacar que a garantia de segurança no emprego não se exaure na proibição de despedimentos sem justa causa ou por motivos políticos ou ideológicos, implicando «a necessária evitação, por parte do Estado em geral e do legislador em particular, de situações injustificadas de precariedade de emprego».
O contrato de trabalho a termo contende necessariamente, por sua própria natureza, com esta garantia, na sua dimensão mais ampla. Na verdade, dando origem a um vínculo laboral com prazo de duração prefixado (no contrato a termo certo), ou sujeito a caducidade pela verificação (dada como certa) de determinado evento (no contrato a termo incerto), não pode assegurar a estabilidade no emprego que o artigo 53.º da CRP postula. Só o contrato por tempo indeterminado (conjuntamente com a proibição de despedimentos sem justa causa) satisfaz aquele imperativo constitucional.
Daí que a contratação a termo não possa deixar de ser, como o mesmo acórdão acentua, «marcada pelo cunho da excepcionalidade». Isso mesmo se reflecte, na ordem infraconstitucional, na exigência da verificação de requisitos, substanciais e formais, de verificação obrigatória, para admissibilidade da figura. E essas previsões normativas só se subtraem à invalidação constitucional se a precariedade da situação laboral corresponder a um motivo justificado, capaz de fornecer uma razão intrínseca de preterição do vínculo por tempo indeterminado.
Amolda-se perfeitamente a esta exigência a cláusula geral do n.º 1 do artigo 140.º do Código do Trabalho (CT), ao fixar, como fundamento genérico do contrato a termo, a celebração «para satisfação de necessidade temporária da empresa».
De fora desta previsão ficam as situações legitimadoras adicionalmente referidas nas alíneas a) e b) do n.º 4 do mesmo artigo. São elas o objecto, neste ponto, do pedido de apreciação da constitucionalidade.
Quanto às previstas na alínea a) - o «lançamento de nova actividade de duração incerta» e o «início de laboração de empresa ou de estabelecimento pertencente a empresa com menos de 750 trabalhadores» - ainda é possível descortinar, posto que com menor evidência, uma justificação objectiva para o vínculo precário. Trata-se, na verdade, de situações caracterizadas pela incerteza de cálculo quanto à necessidade (ou perduração dessa necessidade) de recurso à força laboral.
Já o mesmo se não diga, porém, da previsão da alínea b).
A norma admite que seja a termo a «contratação de trabalhador à procura de primeiro emprego, em situação de desemprego de longa duração ou noutra prevista em legislação especial de política de emprego».
Nesta e em anteriores pronúncias deste Tribunal (a partir do Acórdão n.º 581/95) tem sido maioritariamente entendido que o afirmado propósito de, por esta via, fomentar o emprego de categorias de trabalhadores com maiores dificuldades de acesso ao mercado de trabalho é o bastante para lhe assegurar o beneplácito constitucional. Concedendo que a medida representa uma restrição à segurança no trabalho, ela aparece justificada pela protecção de «determinadas categorias de pessoas que se apresentam como mais vulneráveis no contexto do mercado do trabalho, dentro da lógica constitucional da universalização do direito ao trabalho [artigo 58.º, n.os 1 e 2, alínea a)]», como se diz no presente acórdão.
É minha firme convicção de que esta argumentação claudica em face do quadro de valores da Constituição e da forma como nele se articulam o direito ao trabalho (artigo 58.º, n.º 1) e o direito à segurança no emprego (artigo 53.º). Não estamos perante direitos reciprocamente autonomizáveis, com âmbitos de protecção estanques e potencialmente conflituantes entre si, de modo a conferir sentido constitucionalmente válido a uma normação que sacrifique equilibradamente um em prol da realização do outro. Como sustentam Gomes Canotilho/Vital Moreira (Constituição da República Portuguesa Anotada, i, 4.ª ed., Coimbra, 2007, p. 707), o direito à seguran no emprego é «uma expressão directa do direito ao trabalho (artigo 58.º)». «Na sua vertente positiva - acrescentam os mesmos autores - , o direito ao trabalho consiste no direito a procurar e a obter emprego; na sua vertente negativa, o direito ao trabalho garante a manutenção do emprego, o direito a não ser privado dele». E idêntica concepção perpassa pelo Acórdão n.º 632/2008, quando afirma que «o direito à procura de emprego tem, na Constituição Portuguesa, uma face ou dimensão negativa, que é aquela que decorre direito à não privação arbitrária do emprego que se procurou ou obteve».
Sendo assim, não é qualquer emprego que incumbe ao Estado promover (n.º 2 do artigo 58.º), mas o emprego que dá conteúdo ao direito ao trabalho consagrado no n.º 1 do mesmo preceito, nomeadamente por respeitar a segurança no emprego - a primeira das garantias com que a Constituição o investe. Um fomento de trabalho que utilize meios conflituantes com a conformação constitucional da situação laboral, no que diz respeito à segurança do emprego, não serve como credencial dessas medidas, desde logo porque resulta afectado, na sua dimensão negativa, o direito ao trabalho.
O que se disse é o bastante para, no quadro da apreciação da observância do princípio da proporcionalidade, dar por não verificado «um pressuposto lógico da idoneidade», por falta de legitimidade dos meios utilizados para atingir o objectivo proposto. Como acentua Reis Novais, Os Princípios Constitucionais Estruturantes da República Portuguesa, Coimbra, 2004, p. 167, esse pressuposto, «não integrando, em rigor, as exigências relativas à aptidão de um meio para atingir um fim, condiciona, todavia, a pertinência tanto deste como dos controlos posteriores».
Mas, no caso particular dos trabalhadores à procura de primeiro emprego, o desvalor desta medida, do ponto de vista constitucional, é substancialmente acentuado pelo disposto no n.º 2, alínea d), do artigo 143.º do CT, norma que abre a possibilidade excepcional de uma sucessiva contratação a termo, sem que a tal constitua impedimento a cessação, por motivo não imputável ao trabalhador, de anterior contrato celebrado ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do artigo 140.º
Esta excepção permite que a entidade patronal recorra, de forma sistemática, ao contrato de trabalho a termo, para satisfação de necessidades permanentes, assim recuperando uma liberdade de organização empresarial que a Constituição lhe subtraíra, em tutela do direito dos trabalhadores à estabilidade no emprego.
E tudo se agrava, ainda, com a interpretação que tem sido seguida na jurisprudência, de que «trabalhador à procura de primeiro emprego», para efeito de aplicação da norma impugnada, é o trabalhador que nunca celebrou anteriormente um contrato por tempo indeterminado. Nessa interpretação - que este Tribunal tem repetidamente entendido não ser inconstitucional (Acórdãos n.os 207/2004, 267/2004, 160/2005 e 550/2009) -, qualquer trabalhador, antes de eventualmente conseguir celebrar um contrato por tempo indeterminado - o que a norma sub judicio evidentemente só dificulta... - está duradouramente colocado, por uma característica subjectiva desvalorizadora, no campo da contratação precária. Pode, assim, manter-se ad perpetuum dentro de uma categoria que o inibe de beneficiar da garantia concedida pelo artigo 53.º da CRP.
Por isso mesmo, soa a falso o argumento avançado pelo acórdão, em favor da constitucionalidade da solução, retirado da redução do prazo máximo de celebração do contrato para dois anos, ou, no caso de se tratar de pessoa à procura de primeiro emprego, para 18 meses (artigo 148.º, n.º 1, do Código do Trabalho). Na verdade, é ilusório, no que a este último caso se refere, pela razão exposta, ver nisso a consagração da transitoriedade da situação.
1.2 - Foge aparentemente a este terreno de argumentação uma linha de fundamentação, que remonta ao Acórdão n.º 581/95, a qual caracteriza a ponderação legislativa nestes termos (transcritos no presente acórdão):
«O que se passa antes é que o legislador modela o contrato de trabalho sobre uma ponderação que sopesa a alternativa de limitá-lo no tempo [criando na entidade empregadora a convicção da inexistência de riscos] ou de o não proporcionar aos interessados [mantendo aquela convicção do risco e as consequências da liberdade de não contratar].» Dita de maneira mais directa e crua, a ideia fundante é a de que «mais vale um emprego precário do que emprego nenhum».
Admitamos que assim é, no plano do cálculo pessoal de utilidades de cada trabalhador forçado a optar, dentro da alternativa descrita. Mas o utilitarismo das preferências individuais ou de um grupo social não pode servir de critério de valoração normativa, muito menos de um juízo de validade constitucional. O confronto a estabelecer não é entre duas situações factuais, para atribuir mais-valia à menos gravosa (o menor dos males), ainda que ela não corresponda à que o trabalhador teria direito, segundo o programa constitucional. Deste ponto de vista, não pode merecer senão concordância a afirmação do conselheiro Mário Torres, em voto de vencido no Acórdão n.º 160/2005, de que «a alternativa à contratação com termo não é o desemprego, mas sim a contratação sem termo, em obediência às opções constitucionais» (dando como pressuposto, bem entendido, de que estamos perante uma necessidade certa e permanente, por parte da empresa, de preenchimento de um posto de trabalho).
Está naturalmente em aberto, para o legislador constitucional, no desenho do sistema de tutela dos trabalhadores, dar preferência a uma orientação mais pragmaticamente consequencialista. Mas, em face de uma garantia constitucional, não pode o legislador ordinário restringir o seu alcance, com base nos efeitos perversos alegadamente provocados na esfera de interesses dos trabalhadores (ou de certas categorias de trabalhadores).
1.3 - Mesmo quem entenda superáveis as objecções acima formuladas, quanto à legitimidade dos meios utilizados, choca com obstáculos, a meu ver incontornáveis, nos planos da idoneidade e, sobretudo, da necessidade da medida.
A eficácia de uma política de emprego mede-se pelo seu contributo para a diminuição da taxa global de desemprego. A medida em causa procura dotar os trabalhadores à procura de primeiro emprego e os desempregados de longa duração de um factor preferencial de contratação, de modo a compensar a avaliação desfavorável que tipicamente recai sobre a sua candidatura a postos de trabalho. Como se diz no acórdão a que esta declaração vai anexa: «A norma visa reduzir o risco do empregador na contratação levando-o assim a contratar pessoas que, de outro modo, seriam, em condições normais, preteridas nos processos de recrutamento de pessoal.»
Mas esta medida, se é adequada a provocar uma melhor absorção destas categorias de trabalhadores pelo mercado de emprego, fá-lo, tudo o indica, em proporção significativa, não pelo aumento, mas por uma simples deslocação da oferta de trabalho. Os eventuais melhores índices de contratação dos trabalhadores na situação da norma impugnada obter-se-ão, em parte não despicienda, à custa dos que procuram emprego sem estarem inseridos nas categorias previstas na norma. Não é realista pensar que a procura preferencial destes trabalhadores não tem reflexos numa menor procura dos restantes, a não serem tomadas outras medidas que nada têm a ver com a agora em apreciação. Na verdade, sendo a necessidade de recurso a trabalho alheio real (de outro modo a empresa nunca contrataria, em nenhuma das modalidades) e permanente (de outro modo estaria preenchida a cláusula geral do n.º 1 do artigo 140.º do CT), a impossibilidade de contratar a termo, não fosse a previsão da alínea b) do n.º 4, levaria provavelmente a empresa, em muitos casos, a contratar por tempo indeterminado. Por isso mesmo, por, na ausência da norma, outros trabalhadores serem prioritariamente chamados em vez dos que procuram o primeiro emprego ou estão em desemprego de longa duração é que se pode dizer, como diz o Acórdão, que estas categorias seriam «preteridas nos processos de recrutamento de pessoal» [sublinhado meu].
Em Espanha - país de estruturas produtiva e laboral não muito distantes das nossas - o insucesso da medida foi, aliás, expressamente reconhecido em 1997, levando à proibição da contratação a termo nestas situações - cf. Susana Sousa Machado, Contratos de Trabalho a Termo, Coimbra, 2009, p. 174, n. 443.
Mas o desrespeito pelo princípio da proporcionalidade torna-se particularmente evidente, em função do juízo de necessidade. De facto, não escasseiam medidas alternativas de fomento de emprego, inclusive de medidas específicas incentivadoras da contratação de trabalhadores à procura de primeiro emprego ou em situação de desemprego de longa duração, dotadas de igual ou (provavelmente) de maior eficácia, sem pôr em causa a efectividade, em relação a esses trabalhadores, de uma garantia constitucional básica, que nenhuma razão intrínseca justifica não os abranger. Para assegurar o direito ao trabalho, como constitucionalmente lhe incumbe, os órgãos políticos do Estado (e o legislador, em particular) é livre de, sem pôr em causa esse mandato constitucional, fazer opções de acordo com os critérios orientativos que entenda mais ajustados, de acordo com a sua política para o sector. Razões de oportunidade ou conveniência, presas aos limites de disponibilidade financeira, jogam também aqui, justificadamente, o seu papel. Mas o que o legislador não pode é, com o álibi de uma tuteladora discriminação positiva de trabalhadores com acrescidas dificuldades de acesso ao mercado de trabalho, dentro de um quadro de alternativas definido de modo constitucionalmente insustentável («ou contrato a termo ou desemprego»), consagrar paradoxalmente uma solução que sacrifica uma posição subjectiva, com consagração constitucional, desses trabalhadores.
Como escreveu o conselheiro Mário Torres, no já mencionado voto de vencido:
«O que não é constitucionalmente admissível é que o meio de promover o emprego de pessoas com maiores dificuldades no respectivo acesso seja exasperar a sua fragilização, consentindo a contratação a termo sem que ocorram causas objectivas do recurso ao trabalho precário, ligadas à transitoriedade do trabalho a prestar, assim consentindo um tratamento discriminatório face aos restantes trabalhadores.»
Sobejam, pois, razões para me ter pronunciado pela inconstitucionalidade da alínea b) do n.º 2 do artigo 140.º do CT.
2 - Quanto ao artigo 206.º do CT:
O Código do Trabalho consagra quatro regimes diferenciados de flexibilização do período normal de trabalho: adaptabilidade individual, adaptabilidade grupal, banco de horas e horário concentrado.
Nenhuma dessas soluções está inteiramente imune a dúvidas de constitucionalidade. No caso da adaptabilidade grupal (artigo 206.º), as objecções que suscita são suficientemente fortes para justificar, em meu juízo, uma declaração de inconstitucionalidade.
Pela determinação genérica do artigo 204.º, o limite diário do período normal de trabalho (oito horas) pode ser aumentado até quatro horas e a duração do trabalho semanal pode atingir sessenta horas (em vez das quarenta horas correspondentes ao limite máximo do período normal).
Quer pela medida potencial desta extensão, quer, desde logo, pela variabilidade a que o horário de trabalho fica sujeito, dependendo, na sua conformação concreta, de decisões unilaterais do empregador, com perda concomitante, pelo trabalhador, das vantagens de um horário fixo, predeterminado, a solução é extremamente gravosa para direitos laborais constitucionalmente consagrados. Como o próprio acórdão reconhece, ela representa uma restrição do direito ao repouso [artigo 59.º, n.º 1, alínea d), da CRP], dificultando ainda, de forma sensível, «a conciliação da actividade profissional com a vida familiar» [artigo 59.º, n.º 1, alínea b)], sendo, por essa via, «tocados» o direito ao livre desenvolvimento da personalidade (artigo 26.º, n.º 1) e o direito à família (artigo 36.º). No limite, os direitos à integridade física (artigo 25.º, n.º 1) e à saúde (artigo 64.º) podem ser afectados.
Pode questionar-se se a prossecução de interesses empresariais (por mais legítimos que estes se afigurem) não atenta aqui, de forma excessiva e intolerável, contra posições subjectivas nucleares de uma condição laboral conforme à Constituição.
No mínimo, as condições e o processo de implantação da adaptabilidade grupal deveriam ter sido formulados com particulares resguardos, de modo a impossibilitar que um trabalhador pudesse ficar sujeito a ela sem ou contra a sua vontade - já pondo agora de lado as reservas que justificadamente merece a genuinidade de manifestações de vontade do trabalhador, dentro da relação de trabalho.
No que se refere aos trabalhadores directamente vinculados por convenção colectiva de trabalho que a preveja, ainda se pode dizer que a representação outorgada à associação sindical subscritora satisfaz suficientemente esta exigência - sem esquecer, todavia, que a afectação, e o seu grau, de interesses pessoais e familiares dependem muito de variáveis individuais, dificilmente representáveis e tidas em conta num processo de normalização tipificadora como é inevitavelmente o que conduz a um instrumento de regulamentação colectiva.
Mas a questão fundamental que aqui se suscita é a da extensão do regime a trabalhadores não filiados [alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 206.º] e a da sua aplicação que prescinde de qualquer manifestação da autonomia colectiva, operando por extensão da adaptabilidade individual (n.º 2 do mesmo artigo).
Quanto à primeira, ela representa «uma nova e grave violação à liberdade sindical negativa», como certeiramente a qualificou Júlio Gomes, «O Código de Trabalho de 2009 e a promoção da desfiliação sindical», in Novos Estudos de Direito do Trabalho, Coimbra, 2010, pp. 161 e segs., 176. Na verdade, a liberdade sindical negativa não tem um significado apenas formal, como direito à não inscrição e à não assunção dos deveres, perante o sindicato, que desta resultam (pagamento de quota, etc.). A liberdade de não integrar o substrato pessoal colectivo da associação sindical engloba também, como dimensão substancial do seu conteúdo, e sob pena de se transformar num invólucro quase vazio, o direito a «não ser directamente abrangido pelo domínio de eficácia de actuação de associações sindicais» em que não se está inscrito (A. ob. cit, p. 173, por reporte a Zöllner), no caso, «o direito de não ser prejudicado pelos resultados negociais em sede de contratação colectiva, a que cheguem as associações sindicais a que não se pertence» (A. ob. cit., p. 172). De outro modo, como o mencionado autor germânico acrescenta, seria preferível a inscrição obrigatória, pois então estaria assegurada, ao menos, a possibilidade de participação na formação da vontade colectiva.
E convém não esquecer que na área da autonomia privada (seja ela individual ou colectiva), a liberdade negativa, como liberdade de não ficar vinculado por efeitos que não se querem, é expressão mais básica da autodeterminação (constitucionalmente consagrada no artigo 26.º, n.º 1, da CRP), a primeira e mais digna de tutela manifestação da liberdade negocial.
Dir-se-á, porventura, que «eficácia externa» idêntica à aqui consagrada pode resultar de uma portaria de extensão, figura cuja legitimidade constitucional não tem sido contestada. Mas, para lá de todas as reservas que, neste plano, ela pode suscitar, há que não perder de vista a relevante diferença específica com o regime aqui em presença.
No caso da portaria de extensão, é o órgão estadual competente que, ponderando razões de interesse público, dá vigência alargada ao que foi acordado na convenção. Esta apenas dá conteúdo a um outro instrumento normativo: a portaria de extensão. É esta, não a convenção colectiva, a fonte de vigência do regime constante daquele acto negocial, fora do seu âmbito subjectivo de eficácia.
Não assim quanto ao regime do artigo 206.º do CT aqui em apreciação. É o próprio instrumento de regulamentação colectiva, mesmo quando de natureza convencional, que pode prever que o empregador aplique, em certas condições, o regime de adaptabilidade grupal. Isto é, possibilita-se que, por determinação unilateral do credor do trabalho, seja imposto ao sujeito que o presta um horário de adaptabilidade grupal, sem ou contra a sua vontade, com fundamento numa disposição de convenção colectiva que não o vincula. A associação sindical dispõe, por convenção colectiva, sobre o tempo de trabalho de sujeitos que não lhe conferiram poderes de representação! É o próprio acto negocial privado, não um instrumento legal que acolha o seu conteúdo, a fonte última de vigência do regime.
O Acórdão funda esta possibilidade de extensão a trabalhadores não filiados no princípio da igualdade. «Os trabalhadores que operam no quadro de uma mesma empresa ou de um mesmo sector devem estar sujeitos a um mesmo conjunto de condições de trabalho, a menos que haja uma razão válida para assim não suceder», pode ler-se no aresto.
Não se contesta a conveniência da uniformidade das condições laborais, do ponto de vista da racionalidade de organização e de funcionamento de uma estrutura produtiva. Mas o princípio da igualdade é desfocadamente invocado, para esse efeito. Na verdade, não está em causa a generalização de um tratamento favorável ou a prevenção de um arbitrariamente desfavorável - no que se realiza a função garantística, deontologicamente fundada, do princípio da igualdade -, mas antes a aplicação de um tratamento desfavorável a um grupo de trabalhadores, com dispensa da sua aceitação, com base em que a ele estão sujeitos trabalhadores que laboram no mesmo sector ou unidade e que voluntariamente, por acordo individual ou colectivo, o aceitaram, o que seria justificado pelo interesse de um terceiro, parceiro contratual de ambos os grupos em confronto. Uma actuação, neste sentido, do princípio da igualdade contraria abertamente o seu étimo fundante, dando-lhe um enfoque utilitarista que manifestamente lhe é estranho.
Esquecendo que a posição dos voluntariamente aderentes a este regime de horário não é igual, por isso mesmo, à dos não aderentes, a solução, com este fundamento, corre o risco sério de provocar, ela própria, uma situação de desigualdade. De facto, a anuência dos trabalhadores, individual ou, sobretudo, em convenção colectiva, a algo que os prejudica terá sido obtida mediante a concessão de contrapartidas, de que não beneficiarão aqueles a quem a solução é imposta, por um «efeito de arrastamento».
A imposição do regime a quem não o aceitou individualmente e não é abrangido pelo IRCT que o instituiu é, pois, em meu entender, inconstitucional.
3 - Quanto ao artigo 497.º:
O artigo 497.º abre uma excepção ao princípio da filiação, permitindo a um trabalhador não filiado em qualquer associação sindical aderir individualmente à aplicação de uma convenção, desde que esta seja aplicável, ou uma das aplicáveis, no âmbito da empresa em que labora.
São simples e fáceis de formular as razões que me levam a considerar que a norma está ferida de inconstitucionalidade.
Representando uma restrição legal à autonomia colectiva (na medida em que a convenção vai ter uma eficácia pessoal não resultante do âmbito do substrato pessoal do sindicato outorgante, eficácia nela não prevista e, o que é mais, insusceptível de ser por ela excluída) a solução não seria, só por isso, inconstitucional, dado que o n.º 4 do artigo 56.º comete à lei a tarefa de estabelecer as regras respeitantes, além do mais, à eficácia das normas convencionais.
Simplesmente, no desempenho dessa tarefa, o legislador está condicionado pelo papel que, na ordem jurídico-constitucional portuguesa, está institucionalmente atribuído às associações sindicais, em geral e muito particularmente enquanto titulares do direito à contratação colectiva.
Cabe à lei, nesse quadro, consagrar soluções que, sem ferirem a liberdade sindical negativa, promovam condições normativas de fortalecimento do associativismo sindical. Este depende, antes do mais, do maior envolvimento possível dos trabalhadores nas organizações representativas dos seus interesses laborais, o que, por sua vez, depende da atractividade que, a seus olhos, a filiação tenha.
Ora, a norma sub judicio funciona exactamente em sentido contrário, promovendo a desfiliação, em vez da filiação - como «uma norma de conteúdo (quando não de escopo) anti-sindical» a considera Júlio Gomes, ob. cit., p. 178. Do ponto de vista dos seus interesses, o trabalhador não tem qualquer incentivo a filiar-se, para assim pode beneficiar das melhorias da condição laboral conseguidas por via da negociação colectiva: «mais vale ao trabalhador não se filiar e esperar pelo resultado das negociações das várias associações sindicais para depois escolher a que mais lhe aprouver» (ob. cit., p. 179).
A filiação faz o trabalhador, além do mais, correr o risco do êxito ou do malogro das negociações, com vista à convenção colectiva: se o sindicato em que estiver filiado não chegar a acordo com a parte patronal, a circunstância de estar filiado inibe-o de utilizar o poder potestativo de escolha que o artigo 497.º reserva aos não filiados em qualquer sindicato. Nessa medida, os trabalhadores filiados são pior tratados do que os não filiados, o que é mais um desencorajamento à inscrição nas associações sindicais.
É certo que a norma do artigo 492.º, n.º 4, do CT, ao facultar à convenção colectiva «prever que o trabalhador, para efeito da escolha prevista no artigo 497.º pague um montante nela estabelecido às associações sindicais envolvidas, a título de comparticipação nos encargos da negociação», elimina um dos efeitos deletérios do associativismo sindical que esta solução traz, obstando ao resultado inequitativo de alguém poder obter vantagens de um acto, sem contribuir para os respectivos encargos.
Mas a salvaguarda dos aspectos patrimoniais atenua, mas não elimina, o enfraquecimento da organização sindical que esta solução co-envolve. Na verdade, uma presença forte dos sindicatos no tabuleiro da negociação colectiva depende, em primeira linha, da sua representatividade, que a norma em causa contribui para fazer decrescer. - Joaquim de Sousa Ribeiro.
Declaração de voto
1 - Votei vencida a alínea b) do n.º 2 da decisão, na parte respeitante à admissibilidade do contrato a termo celebrado com trabalhadores à procura do primeiro emprego, conforme disposto no artigo 140.º, n.º 4, alínea b), do Código do Trabalho, no essencial, por discordar da ponderação efectuada pela maioria entre a restrição do direito à segurança no trabalho (artigo 53.º da CRP) e a justificação da mesma com base na «própria lógica da universalização do direito ao trabalho» [artigo 58.º, n.os 1 e 2, alínea a), CRP].
Em primeiro lugar, deve notar-se que o direito à segurança no emprego se inclui nos direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores, impondo a Constituição a proibição dos despedimentos sem justa causa ou por motivos políticos ou ideológicos. Ora, tratando-se de um direito, liberdade e garantia dos trabalhadores, a sua restrição deve respeitar os limites previstos no artigo 18.º da CRP.
Pelo contrário, o direito ao trabalho previsto no artigo 58.º CRP insere-se nos direitos económicos, sociais e culturais, sendo o seu primeiro destinatário o Estado (v. Rui Medeiros, anotação ao artigo 58.º, in Jorge Miranda/Rui Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, t. i, 2.ª ed., Coimbra, 2010, p. 1140) e como tal «não consta [...] de uma disposição directamente aplicável, valendo antes como uma imposição aos poderes públicos, sempre dentro de uma reserva do possível, no sentido da criação das condições normativas e fácticas, que permitam que todos tenham efectivamente direito ao trabalho» (v. Rui Medeiros, anotação ao artigo 58.º, in Jorge Miranda/Rui Medeiros, op. cit., p. 1139).
E se é certo que num Estado, legitimado democraticamente, cabe ao legislador uma ampla margem de conformação quanto à definição e execução da política de emprego, não é menos certo que esta não pode ser levada a cabo em violação dos direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores constitucionalmente consagrados, como é o caso do direito à segurança no emprego.
Assim sendo, e voltando à norma que nos ocupa, não tendo o legislador definido o que entende por «primeiro emprego», e estando longe de ser pacífica a interpretação de tal conceito, o entendimento de «primeiro emprego» como qualquer contratação celebrada por tempo indeterminado, sustentado pela jurisprudência firme e constante do Supremo Tribunal de Justiça, leva a que a admissibilidade do contrato a termo celebrado com trabalhadores à procura do primeiro emprego se afigure como uma restrição arbitrária do direito à segurança no emprego, dado que é desproporcionada, desadequada para atingir os fins que visa e demasiado onerosa para o trabalhador que se encontra numa situação de especial vulnerabilidade.
E nem se diga que existem garantias de segurança previstas no Código do Trabalho, na medida em que elas não conseguem impedir a contratação a termo sucessiva de trabalhadores com base no artigo 140.º, n.º 4, alínea b), do Código do Trabalho para o desempenho das mesmas funções e das mesmas necessidades da empresa, ou seja, estas garantias não são aptas a prevenir a precariedade no emprego.
Em meu entender, a norma deveria ter sido declarada inconstitucional.
2 - Fiquei igualmente vencida quanto à alínea d) do n.º 2 da decisão na parte referente ao artigo 206.º do Código do Trabalho relativo à adaptabilidade grupal, no essencial, pelas razões constantes da declaração de voto do Exmo. Sr. Conselheiro Sousa Ribeiro. - Ana Maria Guerra Martins.
Declaração de voto
Discordei da declaração de inconstitucionalidade da norma do artigo 356.º, n.º 1, do Código do Trabalho, que, ao permitir ao empregador decidir a realização das diligências probatórias requeridas na resposta à nota de culpa, estabelece a natureza facultativa da fase de instrução do processo disciplinar conducente ao despedimento. Tal processo comporta seguramente a necessidade de audição do trabalhador, o seu direito de resposta à nota de culpa. E, estando em causa a verificação da existência de justa causa no despedimento, exige, também, que a decisão do empregador seja fundamentada, pois só assim se garante que o empregador concluiu ponderadamente pela sua existência e só assim se salvaguarda o direito do trabalhador se defender eficazmente numa eventual impugnação judicial da decisão da entidade empregadora.
A questão que se coloca é, porém, apenas, a de saber se, para além disso, a Constituição também exige que as diligências probatórias que o trabalhador pede que a entidade empregadora realize não possam ser rejeitadas.
A nossa resposta é, a tal respeito, negativa.
Independentemente da questão de saber se valem plenamente para este processo as exigências do artigo 32.º, n.º 10, da Constituição, o que não temos por seguro, entendemos que a posição do trabalhador que é objecto de garantia constitucional está salvaguardada ao nível do processo disciplinar não apenas através da sua audição prévia, ou seja, da resposta à nota de culpa, onde pode juntar os documentos que entender, mas, principalmente, através da necessidade da entidade patronal fundamentar a decisão final, devendo entender-se que «é na motivação do despedimento que reside o âmago (nomeadamente constitucional) da tutela efectiva da posição do trabalhador» (Nuno Abranches Pinto, Instituto Disciplinar Laboral, Coimbra, 2009, p. 148, n. 325).
Além disso, o trabalhador pode impugnar o despedimento e nessa acção de impugnação do despedimento pode também o trabalhador requerer as diligências probatórias que entender. Se elas se realizarem em tribunal e o seu sentido for favorável ao trabalhador, o erro da decisão disciplinar irá projectar-se na derrota judicial do empregador e nas consequências económicas e empresariais que daí decorrem. O risco do erro de uma eventual não realização das diligências probatórias requeridas pelo trabalhador corre, pois, judicialmente, por conta do empregador.
Por fim, a solução deve inserir-se também no contexto do novo Código de Processo de Trabalho. Segundo o Novo Código, na linha da proposta do Livro Branco, o trabalhador pode impugnar o despedimento sem proceder para o efeito a qualquer fundamentação por mais sumária que seja (v. Albino Mendes Baptista, A Nova Acção de Despedimento, p. 38, Coimbra, 2010).
Terá, então, de se ponderar o facto de o próprio empregador ter interesse na correcção do processo disciplinar, conjugado com o direito de resposta do trabalhador à nota de culpa e com a necessidade de fundamentação, pelo empreg
ador, da decisão final, afigurando-se-nos que tais garantias, conjugadas com a possibilidade de impugnação judicial do despedimento, constituem protecção suficiente do trabalhador.
Nestes termos, a solução adoptada pelo artigo 356.º, n.º 1, do Código do Trabalho não se pode considerar violadora dos artigo 53.º e 32.º, n.º 10, da Constituição e não é, portanto, inconstitucional. - Rui Manuel Moura Ramos.